Produtor local da 6ª. Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul, o cineasta Francisco Colombo analisa a realização da etapa ludovicense do maior evento do gênero no continente
POR ZEMA RIBEIRO
A cantilena de que São Luís padece de falta de espaços para a fruição de cinema de qualidade parece perder o sentido, em parte, se observarmos a quantidade de festivais que a capital maranhense tem recebido nos últimos tempos: Festival Lume, Maranhão na Tela, Guarnicê, Mostra de Cinema Infantil e, mais recentemente, a 6ª. Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul, encerrada domingo passado (6 de novembro). Em parte, frise-se: fora um ou outro cineclube, o Cine Praia Grande ainda é a única sala a exibir produções fora do circuito comercial, o que o torna palco natural e privilegiado para eventos do porte, não fossem os problemas que veremos a seguir.
Realização da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH-PR) com produção da Cinemateca Brasileira e patrocínio da Petrobras, através da Lei Rouanet, a Mostra chegou pela segunda vez à São Luís, trazendo 47 filmes – 46 de dez países da América do Sul, mais Morango e chocolate, coprodução de Cuba e México – em 25 sessões, durante sete dias, tendo início em 31 de outubro.
Pela segunda vez entrevistado pelo Vias de Fato – a primeira há um ano, em novembro passado, sobre a quinta edição da Mostra –, o cineasta Francisco Colombo, produtor local, concedeu, via msn messenger, a entrevista a seguir.
ENTREVISTA: FRANCISCO COLOMBO
Vias de Fato – Qual o seu balanço após a realização da etapa São Luís da 6ª. Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul?
Francisco Colombo – Acho que deu tudo certo apesar de algumas variáveis que não estavam sob controle, digamos, da produção: a sequência de feriados – interpretada de modo diferenciado pelos poderes executivos estadual e municipal, judiciário e Ministério Público. Isso influiu na mobilização de públicos e na disponibilização, por exemplo, de transporte para entidades ou grupos. No Odylo Costa, filho, a Mostra era a única coisa que funcionava em alguns dias. Além disso, o ar-condicionado do cinema estava muito ruim. Quando vamos ao cinema queremos conforto, queremos nos desligar um pouco do mundo. E fica difícil no calor.
É a segunda vez que a Mostra chega à São Luís. Qual o comparativo entre as duas edições recebidas pela capital maranhense? Houve uma pequena, mínima, queda de público. Mas como disse anteriormente, isso se deveu às variáveis mencionadas. Vi muita gente diferente nessa edição da Mostra. Acho que conseguimos cativar mais gente. A cobertura da imprensa também foi muito boa. A expectativa gerada para a abertura, por parte dessa cobertura toda, em particular da televisiva, foi excelente.
A grande concorrência gerada pela sessão de abertura tem também a ver, ainda que minimamente, com a distribuição dos kits-brindes da Mostra. A sessão de O céu sem eternidade [sexta-feira, 4/11, 19h], no entanto, superou, a de abertura [segunda-feira, 31/10, 19h]. O filme foi rodado em Alcântara/MA e trata do embate dos quilombolas com a base espacial. Você recebeu isso com surpresa ou esperava? A distribuição de kits é uma ferramenta importante na promoção da Mostra. Ao contrário de muita gente que questiona sobre o interesse em parcela significativa do público na ida à Mostra, pra mim tudo é positivo. Imagino que, mesmo que alguns queiram apenas o kit, ainda assim terão contato com os filmes da Mostra e, é claro, serão tocados, ainda que minimamente, pela questão dos Direitos Humanos. Quanto à sessão de O céu sem eternidade, havia sim a expectativa por um público numeroso. Não dava pra imaginar é que superaria ao da abertura.
Ainda é cedo ou já é possível falar em perspectivas para a 7ª. Mostra? A produção local continuará em tuas mãos? O Cine Praia Grande continuará sendo o palco? Aprendemos muita coisa nessas duas edições da Mostra em São Luís. Creio não ser cedo pra falar na próxima. Acho que continuo com a produção, que alia certo conhecimento de cinema, de produção e um trânsito junto à imprensa, ao poder público, à iniciativa privada, às instituições e aos movimentos sociais. Quanto ao Cine Praia Grande, apesar da boa vontade de Frederico Machado e da Lume Filmes, não sei se será possível mantermos a Mostra por lá. Acho que é preciso um lugar um pouco maior, porque assim as pessoas se sentirão, inclusive, mais seguras para arriscar prestigiar a sessão de abertura ou a de exemplos como O céu sem eternidade, e que agregue conforto, boa localização e acessibilidade. Acho que a Mostra tem potencial pra crescer e isso estará, irremediavelmente, associado ao local de realização.
A programação da 6ª. Mostra trouxe 46 filmes de 10 países, incluindo o clássico Morango e Chocolate, coprodução de Cuba e México. Não se faz, por exemplo, entre os filmes brasileiros, uma divisão por estado. O céu sem eternidade foi rodado aqui, com colaboração de gente daqui, mas não é um filme “maranhense”. Cabe perguntar: a que se deve a não participação de produções maranhenses? Existe uma convocatória nacional para a Mostra. Isso equivale a uma abertura de seleção, como em qualquer outro festival. Infelizmente, apesar de eu ter repassado a alguns realizadores, e mesmo de algum jornal ter publicado nota sobre essa convocatória, não houve inscrições de obras maranhenses. Na verdade tenho a impressão de que os realizadores locais, com algumas exceções (pouquíssimas mesmo), fazem filmes ou vídeos para serem vistos apenas em um ou outro festival maranhense. Além da convocatória, há também um trabalho de curadoria, realizado pelo Francisco César Filho, o Chiquinho, lá em São Paulo. O céu sem eternidade, de fato, foi rodado no Maranhão, tendo sido dirigido por Eliane Café, mas não é uma produção maranhense.
Outro problema encontrado pela produção local foi com as constantes quedas de energia no Centro Histórico, sobretudo no último dia da Mostra, quando as sessões chegaram a ter um atraso de até uma hora e meia. Aliado ao abandono do Centro Histórico e a questões estruturais, como falta de transporte e segurança pública, isso certamente também ajudou a diminuir o público. A Mostra é uma realização de um órgão público, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que envolve vários outros parceiros, públicos e privados. Falta sintonia por parte dos poderes públicos locais para um maior sucesso da Mostra? A falta de energia é um problema, a meu ver, inaceitável. Não falo isso apenas por causa da Mostra. Ali é o Centro Histórico. Apesar do número de turistas ser reduzido, a Praia Grande é também frequentada por maranhenses que querem, simplesmente, dar uma volta, passear. Como se não bastasse a falta de segurança, o acúmulo de lixo, o mau odor, o abandono generalizado… falta também energia. É demais mesmo! Houve uma articulação e parcerias para a Mostra, mas não creio que tenha faltado sintonia. Acho apenas que a Secretaria de Estado da Cultura podia ter um tipo de envolvimento um pouco maior. A nossa equipe tratava de captar público pra Mostra e eu me perguntava: por que a Secma não se preocupa em captar público pros equipamentos do estado?
A questão dos direitos humanos está em voga atualmente, sobretudo com relação à temática do Direito à Memória e à Verdade, assunto abordado em diversos filmes da 6ª. Mostra. O que você tem a dizer sobre o assunto? A história do Brasil é muito mal contada. Particularmente, temos um grande problema com o período da ditadura militar que começou em 1964 e da qual o atual presidente do Senado foi colaborador contumaz. Aqui não se buscou responsabilizar os culpados pelas torturas, pelos assassinatos, pelos desaparecimentos… Creio que o cinema ajude um pouco a preencher essa lacuna. Veja que, quando me refiro à história brasileira, não falo apenas no período ditatorial. Outro exemplo: quem sabe alguma coisa sobre a Balaiada? Uma das maiores revoltas populares da América Latina e talvez do mundo! As pessoas que estão no poder não querem que saibamos de história! Talvez tenham medo de que aprendamos com os exemplos e, portanto, preferem nos manter na ignorância.
Em a Mostra, em São Luís, deixando o Cine Praia Grande, certamente irá para uma sala maior. No entanto, cidades maiores, como Brasília e Rio de Janeiro, atualmente, realizam suas etapas da Mostra em salas menores que o Cine Praia Grande. Qual a tua opinião sobre isso? Às vezes é difícil conseguir um bom espaço. Não sei se é essa a questão. Mas acredito que aqui, onde as violações de direitos humanos são extremas, quero alcançar o maior número possível de pessoas. E isso é, de fato, uma posição pessoal.
[Vias de Fato, novembro/2011]




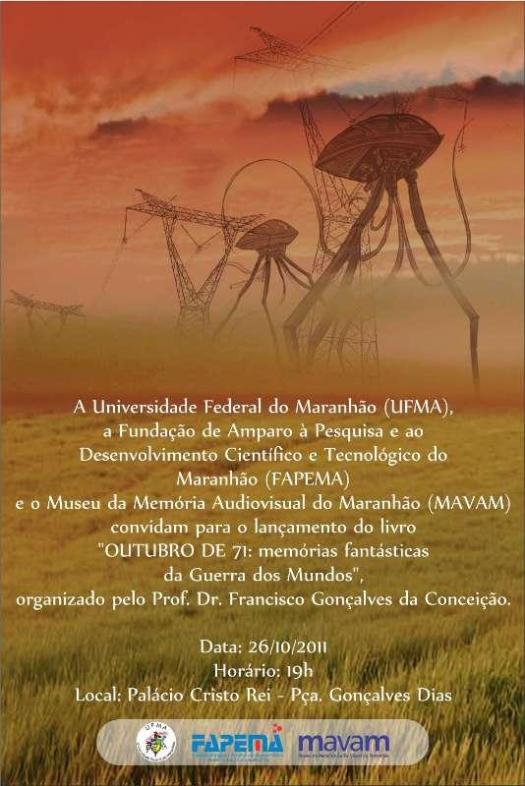
 Em março do ano passado o escritor Luís Cardoso esteve no Brasil para lançar o romance Requiem para o navegador solitário [Língua Geral, Coleção Ponta de Lança, 303 p.], seu primeiro livro publicado no Brasil – de 2007, aportou por aqui em 2009. Noites de autógrafos no Rio de Janeiro e em São Paulo com aquele que é considerado o mais importante escritor de Timor Leste – país-ilha onde também se fala o português –, cujas obras já foram traduzidas para o alemão, francês e inglês, entre outras.
Em março do ano passado o escritor Luís Cardoso esteve no Brasil para lançar o romance Requiem para o navegador solitário [Língua Geral, Coleção Ponta de Lança, 303 p.], seu primeiro livro publicado no Brasil – de 2007, aportou por aqui em 2009. Noites de autógrafos no Rio de Janeiro e em São Paulo com aquele que é considerado o mais importante escritor de Timor Leste – país-ilha onde também se fala o português –, cujas obras já foram traduzidas para o alemão, francês e inglês, entre outras.![Reprodução [http://embomportugues.wordpress.com]](https://i0.wp.com/img.saraivaconteudo.com.br/Clipart/Photo/41/10304_.jpg)




