
Jornalista de ciência, Diego Freire parte da mais conhecida manifestação da cultura popular do Maranhão, o bumba meu boi, para discutir a questão do bullying. O resultado é o belo livro-poema Bumba, nosso boi [Empíreo, 2016, 40 p.], verdadeira obra-prima da literatura infantil, ilustrado por Rogério Maroja, com trabalhos espalhados por revistas como Superinteressante, Recreio, Placar, Saúde e Playboy.
A dedicatória a Papete, um dos maiores embaixadores da cultura maranhense mundo afora, evoca o Boi de lágrimas, clássico de Raimundo Makarra, gravado pelo próprio Papete e tantos outros: “também sente dor, e boi também chora”, diz a letra. É um mote para entrar no debate.
O poema conta a história de Bumba, o boi preferido do fazendeiro, cuja língua desejada por Catirina, é arrancada por Pai Francisco para satisfazer o desejo da esposa grávida, tal qual no auto do bumba meu boi.
Mas no poema de Diego Freire, em vez de morrer e ser ressuscitado pela pajelança de índios e cazumbás, “Bumba acabou sem língua” e “passou por poucas e não tão boas com os outros bichos da fazenda, que caçoavam do jeito diferente como ele passara a falar”.
O autor extrapola o universo do bumba meu boi do Maranhão e propõe o diálogo da lenda central do auto da manifestação com outras lendas bastante conhecidas em todo o Brasil: o Saci, a Mula sem Cabeça e o Boitatá, “que, bem, nem boi é”.
As criaturas, que a princípio deviam assustar o protagonista Bumba, acabaram por se afeiçoar a ele, que afinal havia encontrado sua turma: “Mas Bumba sorriu em vez de gritar./ “Parece que enfim achei meu lugar!”/ É que Bumba viu que toda aquela “gente”/ era como ele: diferente”.
O poema conta uma história de superação, por um viés sui generis, o que demonstra que o auto do bumba meu boi é fonte inesgotável de metáforas para compreendermos melhor o mundo, nosso lugar nele e lutar pelo fim das injustiças sociais – afinal, não é disso que tratou o enredo junino desde sempre?
Para ser lido em qualquer época, não apenas por crianças, Bumba, nosso boi é um livro, no fundo, sobre “direitos humanos”, expressão em geral detratada pelos que insistem em sua abstração como uma espécie de entidade sobrenatural, generalizando órgãos e instituições como “defensores de bandidos”.
O grande trunfo do livro de Diego Freire reside bem aí: escolhe um tema, apresenta sua necessidade de debate e faz isso de maneira leve, longe, muito longe de soar panfletário. Sobra até para a hoje onipresente Galinha Pintadinha.

Serviço
Diego Freire autografa Bumba, nosso boi na programação da 10ª. Feira do Livro de São Luís. Dia 13 de novembro (domingo), às 19h, na Casa do Escritor Maranhense, na Vila dos Livros (Praça da Casa do Maranhão). Toda a programação da FeliS tem entrada franca.















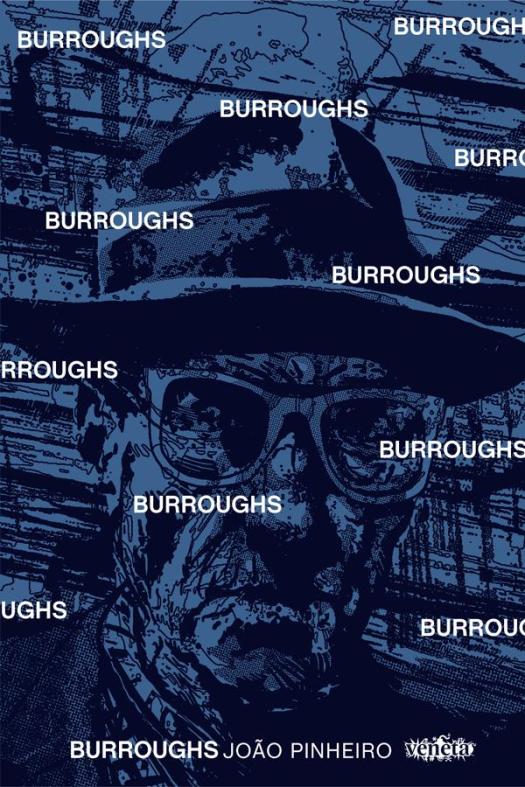
 Pai Euclides em imagem do livro Zeladores de voduns do Benin ao Maranhão. Foto: Márcio Vasconcelos
Pai Euclides em imagem do livro Zeladores de voduns do Benin ao Maranhão. Foto: Márcio Vasconcelos

