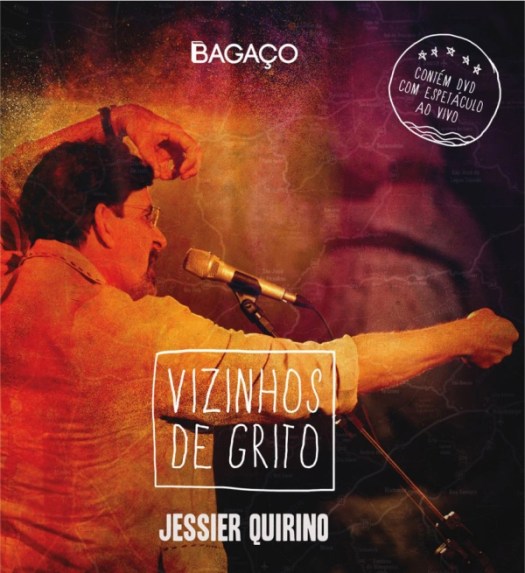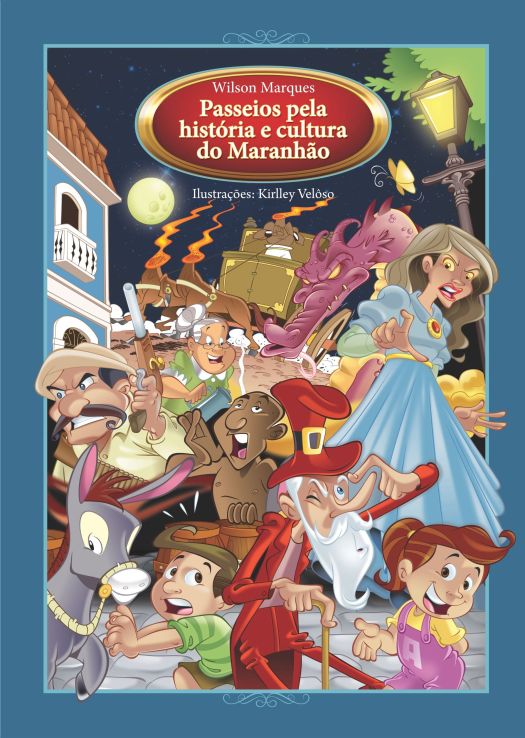Turíbio Santos está de volta à sua Ilha natal: veio para tomar posse na Academia Maranhense de Letras (AML), para a qual foi eleito em outubro passado. Ocupará a cadeira nº. 28, que pertencia ao poeta José Chagas, falecido em maio de 2014. A solenidade de posse, para convidados, acontece amanhã (17), às 19h30, na Casa de Antonio Lobo (Rua da Paz, 84, Centro). No dia seguinte (quinta-feira, 18), no mesmo local e horário, o violonista dará um concerto beneficente – a renda será revertida em favor da AML. Os ingressos custam R$ 50,00 e podem ser adquiridos pelo telefone (98) 99909-0653. A iniciativa foi do próprio músico.
Aos 72 anos, Turíbio Santos é um dos mais conhecidos e respeitados violonistas no mundo – radicado no Rio de Janeiro, já morou na França e é dono de discografia monumental, com destaque à divulgação da obra de Heitor Villa-Lobos. À beira da piscina do hotel em que está hospedado, acompanhado da esposa Marta e do amigo João Pedro Borges, o músico conversou com o blogue.
Titular da cadeira 38 da Academia Brasileira de Música (AMB) desde 1992, recentemente presidiu a instituição. Ele declarou-se emocionado com a eleição para a AML. “É muito emocionante, é minha terra, sou muito ligado a São Luís. Mudei daqui com três anos de idade, mas meu pai vinha praticamente todo ano para cá e o felizardo que vinha com ele era eu, menino ainda. Íamos para a Rua das Hortas [no Centro], um casarão daqueles maravilhosos, com o quintal enorme. O que isso faz com a cabeça de uma criança é espetacular. Eu tenho lembranças assim, de ficar esperando o bonde, botando bolinha de gude no trilho para fazer cerol depois, pra empinar pipa. Era um sonho total. São Luís representava liberdade pra valer”, lembra, emocionado.
Para ele, assumir uma cadeira da AML é um processo natural. “Eu já era sócio correspondente, essa iniciativa foi do Jomar Moraes [escritor, membro da AML], que me ligou. Aí veio essa questão de assumir uma cadeira, novamente o Jomar. Eu fiquei um pouco preocupado com a questão do tempo. Depois entendi o que era. É uma homenagem a um filho da terra, o que achei muito justificado”.
Entre os livros publicados por Turíbio Santos destacam-se Heitor Villa-Lobos e o violão [1975], Segredos do violão [1992], Mentiras… ou não? Uma quase autobiografia [2002] e Álbum de retratos – Turíbio Santos (de Hermínio Bello de Carvalho) [2007], além da recém-lançada autobiografia Caminhos, encruzilhadas e mistérios [2014], cujo encarte traz um dvd com o músico executando peças de Villa-Lobos, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Chiquinha Gonzaga.
O músico lembrou também o início da carreira: um concerto em julho de 1962, num completamente lotado Teatro Arthur Azevedo (TAA), promovido pela Sociedade de Cultura Artística Maranhense (Scam). “Minha carreira começou em São Luís por acaso. Dona Lilah Lisboa [pianista que dá nome à Escola de Música do Estado do Maranhão] era presidente da Scam, e ela me viu tocar numa festinha, ficou encantada. Eu tinha 19 anos, nem sabia o que era ser profissional. Ela me disse: “você tem que vir”; retruquei: se a senhora pagar a passagem de meu pai, ele há muito tempo não vem aqui, vai ser uma grande alegria para a família”. Ela topou e eu fiz o meu primeiro concerto. Quatro dias depois eu fiz para o Sesc, no mesmo local, outro concerto”, conta.
Turíbio afirmou não conhecer profundamente a música produzida atualmente no Maranhão. Disse se atualizar através de presentes de amigos, quando de suas vindas à capital, geralmente cds de bumba meu boi e outras manifestações da cultura popular. “A música daqui é muito forte. Há uma espécie de clima geral nesse ambiente do planeta, onde todos os países viram caribenhos. São Luís tem uma coisa com o Caribe muito forte. Seja a brisa, a influência da cultura negra, as mulheres bonitas, as músicas muito sensuais, todas”, elogiou.
Semana passada o violonista realizou três concorridas apresentações no Clube do Choro de Brasília/DF. Sobre o concerto que fará um dia após a posse na AML adiantou que buscará lembrar parte do repertório do primeiro concerto, há mais de 50 anos. “Eu recapitulo permanentemente [a trajetória]. Aqui eu vou recapitular de propósito, nesse concerto na Academia Maranhense de Letras, um pouco do repertório do meu primeiro concerto no Teatro Arthur Azevedo. Eu fui ver detalhadamente o repertório, e vi que havia peças consistentes, peças difíceis, poderosas, do repertório do violão: Variações sobre um tema de Mozart, de Fernando Sor, A catedral, de Augustin Barrios, músicas de Villa-Lobos, inclusive o Choros nº. 1”, adiantou.
Indago-lhe se o discurso para a posse já está pronto. Bem humorado, abre um sorriso e responde: “Já!”. Volta a falar da posse, não sem um quê de poesia: “Esse ato coloca um selo definitivo na minha ligação com São Luís”.