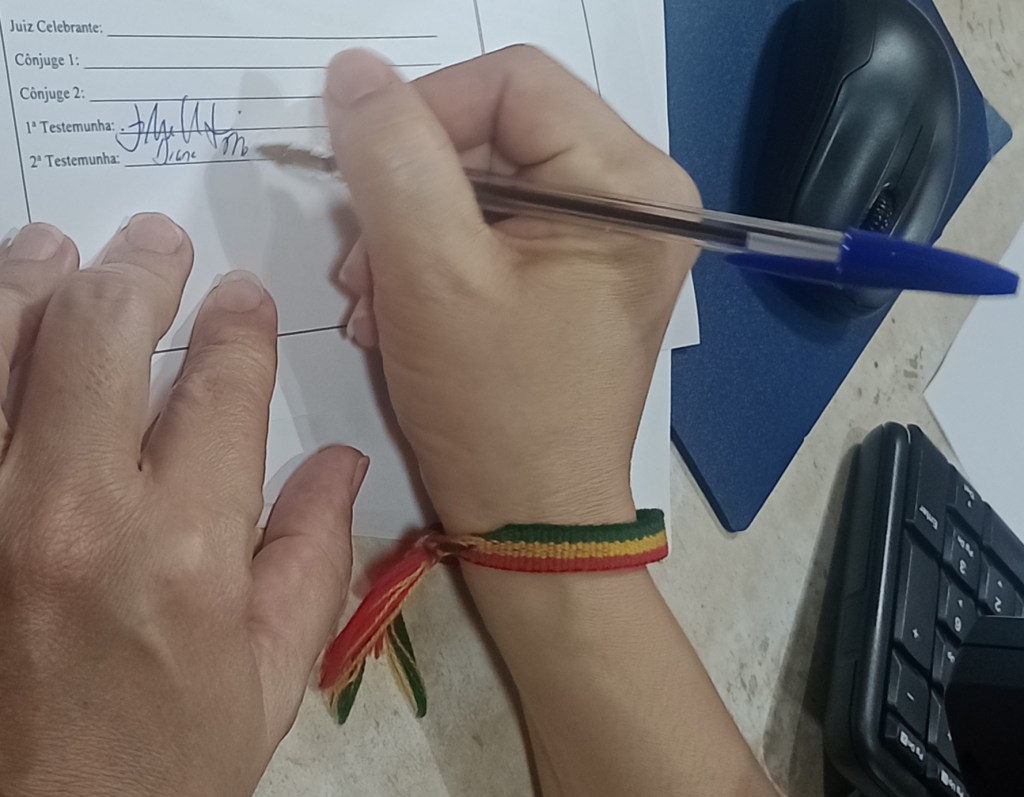A faixa-título do mais recente álbum de Arnaldo Antunes diz a que veio logo nos primeiros versos: “cada vez mais plástico e menos água/ cada vez mais casca e menos substância”, canta em “Novo mundo”, parceria com Vandal (com quem dueta na criação a quatro mãos), numa música que alerta para uma série de problemas de nossos tempos, sobretudo na seara da internet e redes sociais, mas não só.
Curioso que o álbum lançado em março tenha passado batido ao crítico de música, este resenhista que vos escreve, que defende o jornalismo cultural como uma curadoria possível desta época, em contraponto a sermos nós, público e crítica, eternas vítimas em looping (redundância intencional) dos algoritmos (e agora inteligências artificiais) a serviço sabemos de quem.
Curioso também é que tenha sido minha companheira Diana Melo quem me tenha chamado a atenção para o álbum — ou mais especificamente para algumas faixas dele — graças a uma espécie de pegadinha dos algoritmos (a contradição possível, enfim): lendo as letras (antes, para depois ouvir as músicas) postadas na conta no instagram do artista. Explico: ambos seguimos o ex-Titãs (o eterno Titãs?) nas redes sociais e duas letras bonitas (aqui um pleonasmo, em se tratando de Arnaldo Antunes) lhe tenham chamado a atenção em um certo intervalo. Devo dizer que mesmo morando juntos há algum tempo, eu e ela passamos os dias nos mandando memes e músicas, não necessariamente nessa ordem, e temos uma playlist alimentada a quatro mãos com músicas bonitas, capítulos importantes de nossa história de amor, reencontro, conquista e propósitos mútuos.
A primeira é “Acordarei”, composição solitária de Antunes: “amanhã amanhã/ de manhã de manhã/ acordarei/ acordarei feliz/ porque você também/ acordará”, começa a letra; “que bom que há você aqui/ pra brisar/ risos em teus zelos/ asas em teus pesos/ pazes em teus pesadelos/ pra ficar feliz/ que bom que há você aqui/ pra brincar”, canta em “Pra brincar”, outra também assinada somente por Antunes.
Se “Novo mundo” abre em tom apocalíptico, o álbum se desdobra em camadas de amor. Citei aí duas letras que fazem sentido e podem ser trocadas por links enviados em aplicativos de mensagens ou acopladas em playlists não só pelo repórter e sua companheira mas por qualquer casal apaixonado, mas há várias outras que caberiam no soundtrack de nossa love story (e da sua também, caro leitor, cara leitora, permita-se). Amar é brega, é piegas e se é amor não há como fugir disso. Minto: há. A forma como Arnaldo Antunes canta o amor é tão sofisticada que você pode tentar conquistar, conseguir conquistar e/ou manter acesa a chama da conquista, da paixão e do amor, com suas composições, sem ser tachado de brega ou piegas.
Se não acreditam, leiam o começo da letra de “O amor é a droga mais forte” (mais uma faixa de assinatura solitária): “o amor é a droga mais forte/ que vicia logo no flerte/ e o que vem depois se reparte/ cicatriz por cima do corte/ o destino faz sua parte/ fora isso só mesmo a sorte”.
Arnaldo Antunes acerca-se de parceiros novos e antigos: canta com o takling head David Byrne em “Body corpo” e “Não dá para ficar parado aí na porta”, ambas parcerias da dupla; com Marisa Monte, parceira em “Sou só”; e com Ana Frango Elétrico em “Pra não falar mal” (Arnaldo Antunes), exercício de empatia, altruísmo e… amor: “”Se pra melhorar a gente/ precisa ter mais cuidado/ pra não falar mal de ninguém/ não pensar mal de ninguém/ pra não ficar mal com ninguém/ não querer mal a ninguém/ pra ser o amor de alguém/ amar alguém também/ pra tudo ficar bem”, diz a letra.
Parceria com Marcia Xavier, “Tanta pressa pra quê?” versa sobre a instantaneidade e o excesso de noticiários do “cristal líquido da tela”, mas é ao mesmo tempo pergunta-síntese e ensinamento: problema nenhum em ouvir, achar bonito e escrever sobre um disco sete meses após seu lançamento; como problema nenhum em reencontrar um amor 20 anos depois e resolver vivê-lo e também, a seu modo escrevê-lo, cuidando também da trilha sonora.

*
Ouça “Novo mundo”: