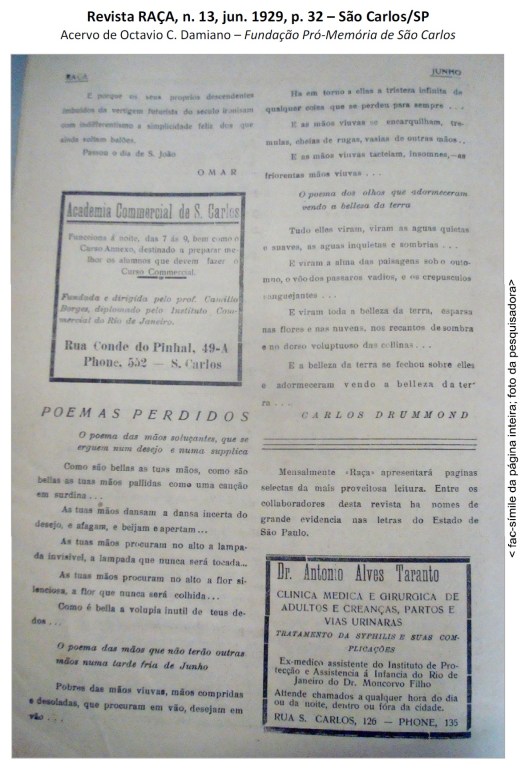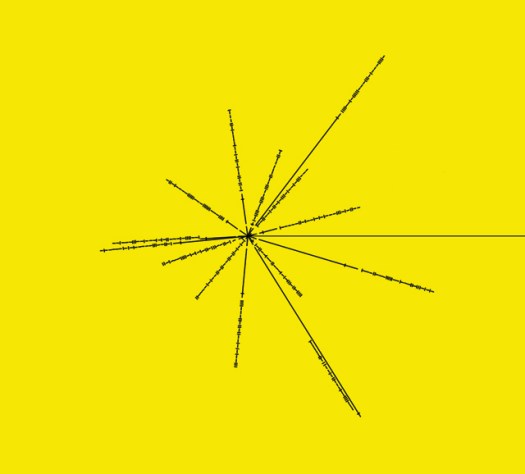“Não confio em ninguém com mais de 30”, diz o hit dos Titãs. 2016 marca os 30 anos da publicação da primeira edição da revista Uns & Outros, que ao longo de oito exemplares veiculou os poetas da Akademia dos Párias.
O nome do grupo trazia em si uma provocação: colocava os párias, isto é, a ralé, num local sagrado, a academia – referiam-se provocativamente à Academia Maranhense de Letras (AML). Na outra academia, a Universidade Federal do Maranhão, exercitavam a liberdade, a maioria deles no curso de Comunicação Social.
A Akademia dos Párias congregou, ao redor de poesia, álcool e drogas um estilo de vida que acabou por devolver à cidade de São Luís o status de cidade de poetas – para além do modorrento título, sempre contestável, de Athenas brasileira.
Jovens estudantes, alguns já formados, tomavam de assalto bares com seus recitais caóticos –porém sinceros. Os 30 anos da revista e, portanto, do grupo que a publicava, serão celebrados amanhã (19), a partir das 19h, na Livraria Poeme-se (Rua João Gualberto, 52, Praia Grande), com o lançamento de A poesia atravessa a rua, antologia que reúne 25 poetas publicados nos oito números da Uns & Outros.
No Cafofo da Tia Dica (por detrás da Poeme-se), Homem de vícios antigos conversou com os jornalistas Ademar Danilo e Raimundo Garrone e o publicitário Marcello Chalvinski, representantes de duas gerações (ou dentições) da Akademia dos Párias, todos poetas – ao menos em algum momento da vida –, todos publicados na Uns & Outros.

Vocês abandonaram a poesia?
Raimundo Garrone – Eu continuo escrevendo, mas não publico.
Ademar Danilo – Eu me embruteci. O jornalismo me tirou da poesia.
Marcello Chalvinski – Eu publiquei três livros de poesia [Anjo na fauna, Temporal e Dom Juan] e o romance O plano [Prêmio Literário Gonçalves Dias da então Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão, 2008], e já estou com outro [de poesia] para publicar.
Garrone, um dia alguém vai achar inéditos em tua gaveta.
Garrone – Como aquela poeta americana, Emily Dickinson. Não é que eu queira ser póstumo, não. Poeta é quem se considera.
Ademar –“Inverno, primavera/ poeta é quem se considera”.
Garrone – Zeca [Baleiro] musicou [o poema de Paulo Leminski de cujo trecho Ademar lembrou]. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi uma entrevista atribuída a Ferreira Gullar na qual ele diz que quando alguém o chama de poeta, ele diz ter vontade de responder “poeta é a mãe!”. Acaba sendo um xingamento, enxergam o poeta como aquela pessoa complacente, aquela pessoa no mundo da lua, ainda é uma ideia que se tem.
Poeta acaba sendo uma espécie de mestre ou compadre, aqui em São Luís é uma saudação. Muita gente aqui se aventurou de algum modo na poesia.
Marcello – Uma coisa interessante no Fernando Abreu é que, uma vez ele me disse, ele sabia que ia ser poeta desde que nasceu. Ele já tinha essa noção. Tem uma coisa que eu gosto de registrar: mais ou menos quando eu conheci essa turma, no final da década de 1980, acho até que foi Fabreu quem me falou, sobre a questão da verdade que a poesia precisa ter. Poesia só é poesia se ela tiver verdade, se ela tiver vivência, essa coisa intrínseca. Já na década de 90 eu tive outra constatação de que a poesia, na verdade, é uma forma de viver. O que se registra no livro são poemas, a poesia é a forma de viver dos poetas. Eu continuo publicando, alguém já disse que sucesso e fracasso são iguais, os dois são ilusões. Pra mim importa fazer, produzir, viver dessa forma: a poesia como jeito de ser, existir e perceber as coisas. O que sobra desse filtro é que vai ser o poema, aquilo que sobra, o que a cachaça não apaga e a noite não elimina da memória.
Garrone – Um detalhe importante em relação aos párias é que os párias não eram um movimento literário, mas uma forma comportamental, seja pelo ambiente político da abertura [o processo de redemocratização brasileiro, após 21 anos de ditadura militar], muitos de nós começamos a conviver na universidade, que vivia com a cabeça muito fechada em função do regime.
Ademar – Foi importantíssimo para aquela época. Nós, de certa forma, resgatamos a poesia para o dia a dia da cidade. Nós declamávamos, nós vendíamos revistas, nós tínhamos uma presença poética na cidade.
Marcello – Não era só escrever e publicar. Tinha os recitais, os párias, performances.
Esta mesa tem duas gerações da Akademia dos Párias. Deste lado a primeira geração, fundadora, e deste a segunda dentição, com Marcello, mais novo. Como é que vocês se conheceram e chegaram à Akademia?
Garrone – A UFMA foi um catalisador.
Marcello – Quando eu conheci a turma estava saindo o “quinto dos infernos” [a quinta edição da revista Uns & outros], Fabreu já tinha me convidado, mas eu não entreguei os poemas.
Garrone – Existiam uns bares que eram referência. Por exemplo, no beco do teatro tinha um bar que a gente sabia que só dava artista. Então a gente ia pros bares sabendo que íamos encontrar.
Marcello – E rolava recital. Não era uma poesia só textual, só escrita, só impressa. Era uma poesia que era feita nos bares, subíamos nas mesas e começávamos a recitar.
Ademar – A gente vivia isso.
Marcello, o que te trouxe à São Luís?
Marcello – Eu sou de Curitiba, tenho uma vida errática. Eu viajei, por 10 anos eu fiquei viajando o Brasil, com o trabalho que eu fazia, com cartografia, e escolhi um lugar para ficar. Eu gosto muito das pessoas daqui.
Vocês se conheceram na UFMA no curso de comunicação?
Ademar – Eu fazia Direito. Nós [ele e Garrone] éramos vizinhos. Os maus hábitos nos aproximaram.
Garrone – Aos 50 não se fala em vícios, se fala em hábitos [risos].
Marcello – Acho que no princípio toda a turma, a primeira dentição, era quase totalmente formada por estudantes da UFMA. A segunda dentição, ZéMaria Medeiros, Joe Rosa, eu mesmo, ninguém era aluno da UFMA.
Garrone – O Comunicarte [tradicional encontro promovido pelos cursos de Comunicação Social e Artes] tinha feito um impresso, com vários poetas, e nós resolvemos fazer a Uns & outros. Ela foi um embrião, a partir dali a gente se aproximou mais, fosse para mostrar que todo mundo podia fazer poesia, por que aqui em São Luís tem aquela coisa da tradição.
Ademar – Nós tivemos um incentivo muito grande do pessoal do Guarnicê [suplemento então encartado no jornal O Estado do Maranhão, depois uma revista independente], que eram Celso Borges, Joaquim Haickel, [Roberto] Kenard, Paulinho. Eram jovens, mas já casados, já tinham terminado os cursos, e nos acolheram. A palavra é essa: o pessoal do Guarnicê acolheu os párias. Ajudavam a gente a imprimir, eles já trabalhavam, Celso já era casado, Joaquim já era deputado, eles ajudavam. Era uma geração acima da gente.
Garrone – Naquela época não havia internet, os jornais circulavam bastante e você via ali, no domingo, aquele encarte, num jornal oficial, da família [Sarney, proprietária do Sistema Mirante de Comunicação], mas tinha algo diferente. Ousado, digamos assim. Isso acabou.
Afora a poesia o que vocês destacariam como elementos de interesse comum?
Ademar – Nós tínhamos estilos de vida parecidos. A maior parte de nós tinha militância estudantil, pensava coisas semelhantes, frequentava lugares semelhantes. Eu levei todo mundo pro reggae, todo mundo virou regueiro.
Marcello – Todo mundo progressista, libertário e doido.
Garrone – Havia também uma identificação com a geração beat, a coisa do pé na estrada. Eu e esse aqui [Ademar], a gente tem várias histórias de estrada [risos].
Qual foi a repercussão da primeira Uns & outros? Foi uma coisa pensada ou foi uma coisa meio “vamos reunir quem está escrevendo e ver no que é que dá”? Como é que foi isso?
Garrone – Já tinha essa base do jornal do Comunicarte. O que deu repercussão foi o lançamento, no Sapecas Bar [hoje extinto; na Rua das Flores, por detrás da Igreja de São João]. Pegávamos as revistas, todo mundo liso, e entrávamos nas salas de aula [na UFMA], pedíamos licença e entrávamos, recitávamos.
Marcello – A gente foi pra UFPA em 1993.
Ademar – Nós não achávamos que era uma coisa assim à toa. Nós já tínhamos inserção na sociedade. Naquele tempo eu já trabalhava em rádio, todos nós fazíamos movimento estudantil, nós tínhamos presença na universidade, presença na sociedade. A gente sabia que aquilo ia repercutir. O que a gente não tinha era uma estratégia de marketing pensada, mas a gente não fez à toa. A gente fez sabendo que era possível fazer. Era uma revista de-vez-em-quandal.
Garrone – Saia mais ou menos de seis em seis meses.
Marcello – Uma coisa que eu acho importante que se diga dos párias é que quando íamos fazer um recital eram poemas autorais, próprios, e muitas vezes de improviso. Diferente de outros que faziam leituras de poemas, vão ler Drummond, poemas já… [interrompe-se]. Com a gente, de vez em quando rolava um Baudelaire, um Launtréamont, mas a maioria eram poemas nossos.
Garrone – Os nossos recitais eram junkies mesmo. Tinha gente que batia palma e tinha gente que vaiava, jogavam copos, nós acontecíamos.
Marcello – Eu me lembro do Beco Cultural, a gente botou umas mesas no palco e ficou o microfone ali, a gente bebendo em cima do palco, de vez em quando um levantava, com seus papéis ou não, recitava um poema e as coisas iam fluindo. Assim eram as apresentações dos párias.
Garrone – Todos bêbados!
Uma coisa menos comportada. Era um grogue ao vivo.
Garrone – Era um grogue.
Ademar – O pouco que lembramos era assim [gargalhadas gerais].
Garrone – O Diário Oficial [do Estado do Maranhão], quando era publicado no Sioge [o Serviço de Imprensa e Obras Gráficas do Estado, hoje extinto], ele tinha um encarte cultural, era Alberico [Carneiro Filho, escritor e professor] que era o editor. Ele ia fazer, nós já tínhamos publicado a última revista, eu era editor de cultura de O Imparcial, e não sei por que cargas d’água, ele quis convidar os párias para fazer um recital lá no Sioge, nessa festa. Lá estavam Jomar [Moraes, escritor, membro da AML], a academia. Foi um escândalo!
Ademar – Diga-se de passagem, o Jomar Moraes não gostava nada de nós. Escreveu artigos detonando a qualidade da Akademia dos Párias. A Academia Maranhense de Letras não gostava, por que o próprio nome Akademia dos Párias mostrava essa contradição, a academia como essa coisa pompa e pária que é a ralé da sociedade.
Quer dizer, havia uma intencionalidade quando vocês batizam o grupo.
Ademar – Claro!
Garrone – Tem um poema de Bráulio Tavares, chamado Amor e verdade, que é um poema assim: “me dá tua mão!/ toca aqui [toca a calça na altura do pênis]/ sentiu? Acredita agora?” Quando eu fiz isso lá no Sioge, aí pronto, a família maranhense… [risos] ao ponto que acabaram com a festa, não nos pagaram o cachê.
Ademar – Nessa mesma época houve uma premiação, dessas premiações fajutas, do produtor que faz, os melhores do ano, e o melhor do ano na área cultural é o diretor financeiro não sei o quê que tem. Aí convidaram os párias para essa festa de melhores do ano no Casino [Maranhense, então um tradicional clube na avenida Beira Mar], onde estava a nata da inteligência formal de são Luís, os tidos inteligentes, acadêmicos e tudo mais, e era o troféu Apolônia Pinto de Cultura do Maranhão. E lá pelas tantas, eu já trabalhava na Mirante, o locutor do evento era [o radialista] César Roberto. Nós éramos temidos, as pessoas sabiam que a gente ia aprontar alguma. César Roberto na apresentação, eu trabalhava junto com ele, eu chego de surpresa nele, por detrás do microfone e digo: “César, a Akademia dos Párias vai fazer uma homenagem à cultura”, e César Roberto, confiando no seu amigo de trabalho [risos]. Tinha um camarote com Jomar Moraes, que era presidente da Academia Maranhense de Letras, e César Roberto anuncia: “e a partir de agora a Akademia dos Párias no troféu Apolônia Pinto vai fazer uma homenagem à cultura!”. Isso era de madrugada, e não se sabe de onde Paulo Melo Sousa [poeta e jornalista] aparece com um abacaxi, todos embriagados, e nós decidimos oferecer à Academia Maranhense de Letras. Era o troféu Apolônia Pinto, nós resolvemos oferecer o troféu Apolônia Pênis [risos]. Quando a gente se espanta Paulão jogou o abacaxi no camarote e esse abacaxi saiu caindo por cima deles lá, aquele alvoroço, a festa acabou por ali.
Marcello – Uma vez nós fomos convidados para representar a Akademia dos Párias num simpósio do curso de Letras da UEMA. Fomos Fernando Abreu, Joe Rosa e este seu amigo. Teve apresentação de todo tipo de poesia. A gente entra depois do coral da Igreja Maranata. A gente se apresentou e foi falar um pouco da poesia erótica. Cada um disse um poema e eu falei um poema de Bráulio Tavares. Quem tinha me convidado era uma professora que estava bem na minha frente. Era o Poema da Buceta Cabeluda, que tem versos como: “a buceta da minha amada é cabeluda/ e cabe linda na palma da minha mão”, quando eu falei mão, olhei para a professora ela estava vermelha, “a buceta da minha amada é cabeluda/ é o alfa e o ômega dos meus segredos/ e na minha língua é lambda”, quando eu falei lambda, a professora não estava mais lá. No final a confusão foi tão grande, a gente estava autografando livros, a meninada pirou, um professor que ia se apresentar depois da gente, disse “olha, eu ia fazer uma coisa meio escandalosa, mas depois dos párias eu vou parecer um anjinho”… e eu estava feliz, vendendo livro, dava pra beber, era aquela coisa, poesia e álcool, álcool e poesia. Aí chega a professora, com outro professor, vieram me dar uma bronca, por que eu tinha feito aquela coisa pornográfica. Eu argumentei: “mas professora, o objetivo da universidade não é atritar as inteligências?”, e eles “não, mas não sei o quê”, eu tentei argumentar, mas eles insistiram, eu virei e disse: “olha, eu já fiz [recitei] o poema, vocês querem que eu faça o quê, agora, com essa buceta, que eu raspe?” [gargalhadas]. Sempre havia um tipo de confusão por causa da ousadia. É como Garrone falou: ou aplaude ou vaia, indiferente não fica.
Garrone – Uma coisa engraçada é que uma vez fomos para Arari, ficamos hospedados na casa do prefeito, um evento só para professores e havia um poema de [Antonio Carlos] Alvim que dizia “grande e lúcida a buceta de Lúcia”, e nós pensávamos que íamos chocar, que fosse o inverso, mas eles receberam super bem. Havia uma preocupação em dizer ou não, e fomos surpreendidos. Para ver a contradição.
Ademar – O fato é que a Akademia dos Párias devolveu a imagem de São Luís como terra de poetas. O pessoal via aquele monte de moleque fazendo poesia. Boa ou ruim, mas fazendo poesia e projetando a poesia na cidade. A Akademia dos Párias foi muito importante para os anos 1980, para a cena cultural de São Luís, foi fundamental.
Vocês falaram há pouco de vender revistas em salas de aula. Quer dizer, havia certo respeito dos professores.
Ademar – Não era tanto respeito, era certa inevitabilidade.
Garrone – A gente pedia licença e entrava. Se eles dissessem não, a gente entrava do mesmo jeito.
Ademar – Isso nós herdamos do movimento estudantil.
Garrone – A universidade como uma casa aberta, era uma compreensão nossa. Você tinha relação com o Sá Viana [bairro por detrás da UFMA], não tinha muros. A gente sempre discutiu que a universidade era o espaço para se exercer a liberdade que a sociedade não permitia. Esse era o discurso que a gente tinha, não o discurso que se tem hoje de que a universidade é um grande colégio.
Nesse aspecto vocês não pensam que o ambiente universitário hoje não está meio estéril?
Ademar – Sem dúvida alguma! É outra realidade.
Garrone – Hoje em dia é o cara entrar, fazer o dever de casa, se formar, fazer o trabalho certinho e acabou. Não tem experiência nenhuma, não viaja.
Ademar – Não existe mais movimento estudantil. Hoje o movimento estudantil se sustenta com emissão de carteiras de estudante. O movimento estudantil não vai mais para os retornos pedir pedágio para a população ajudar na luta estudantil.
Garrone – Papai e mamãe bancam. Hoje se vai para encontro de estudantes, vai de avião, fica em hotel.
Ademar – Isso não existia na nossa época. A gente ia para a rua tentar arrumar dinheiro para viajar de ônibus e ficar em alojamento, em colégio. Hoje o movimento estudantil é uma máquina de fazer dinheiro, há empresas especializadas em organizar encontros. Isso não é saudosismo, pode parecer “ah, na minha época era melhor”, não era, era uma forma diferente de ver o mundo, as coisas eram mais conquistadas.
Que livros de cabeceira vocês elegeriam?
Ademar – [Charles] Bukowski em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, tipo obras completas.
Marcello – Os beatniks, Gregory Corso, [Lawrence] Ferlinghetti.
Ademar – Todo mundo lia muito e várias coisas.
Garrone – Na poesia tinha [Paulo] Leminski, antes de Leminski virar pop, digamos assim, a gente já lia. Chacal era uma referência, passou por aqui. Tinha Os Camaleões [grupo de poetas integrado por, entre outros, Pedro Bial] do Rio. Como a gente viajava muito para encontros, a gente conhecia grupos em salvador e trocávamos com o que fazíamos. Os irmãos [Augusto e Haroldo de] Campos. Ademar tinha Mulheres, de Bukowski, foi o primeiro que a gente viu. Nós tínhamos só uma livraria, que era a Espaço Aberto, aqui na Rua do Sol, era a livraria de Josias Sobrinho [compositor].
Marcello – Talvez uma das maiores divisas da Akademia dos Párias seja de Ferreira Gullar. Aquele trecho “loucos são todos em suma/ uns por pouca coisa, outros por coisa alguma”.
Ademar – Saiu em todos os números [como uma espécie de epígrafe] e representava a nossa loucura mesmo.
Garrone – Bráulio Tavares eu conheço duma edição da Abril que vendia em bancas. Com a Companhia das Letras é que começou a surgir uma literatura mais voltada para nosso caminho. A primeira tradução de [Vladimir] Maiakovski que eu li foi uma tradução portuguesa horrível. Aí tu vai ler a dos irmãos Campos com Boris Schnaiderman, é outra coisa!
O que do espírito pária está mantido intacto em vocês, hoje?
Ademar – Eu digo com toda tranquilidade: eu era um jovem rebelde. Hoje eu sou um coroa rebelde. Eu nunca perdi o meu sentimento de contestação. Ao longo do tempo eu exerci esse sentimento de contestação de várias maneiras, na política partidária, cheguei até a ser vereador, larguei a política partidária, é uma página totalmente virada, mas continuo firmemente com minhas posições políticas, continuo firmemente atendendo e entendendo minha formação de esquerda. Só não tenho mais militância, mas continuo com a mesma visão crítica, claro que hoje com a perspectiva de alguém com 53 anos, que não é igual à de quem tem 18 anos. Mas eu continuo na rebeldia, acreditando e desacreditando na humanidade.
Garrone – Além disso que Ademar falou, está dentro de mim, mas eu me preocupo, por que eu não quero mexer nisso. Não dá para conciliar essa coisa mais pária com essa coisa mais profissional, família. Se eu começar a beber eu sei como é que eu sou, eu me conheço. Até a relação com a poesia, ela não vai te dar sustento, mas te dá comportamento. Eu temo começar a dar mais espaço para o lado poético e menos para o lado jornalístico, por que a poesia me leva, de certa forma, para a anarquia, para a falta de regras, uma série de coisas que eu sei que estão em mim. Não quer dizer que todo mundo seja assim. Eu te garanto que no dia 19 eu vou estar morto de bêbado aqui [aponta para a livraria Poeme-se], por que eu tenho que beber para fazer isso, faz parte de meu espírito, faz parte de minha relação com ela [a poesia]. Dito isso, eu prefiro deixá-la ali, o diabinho está ali, é melhor não cutucar com vara curta.
Marcello – O que aconteceu comigo é que, como eu falei, eu não nasci poeta. Eu descobri a poesia e fui entender que a poesia só é poesia se tiver verdade. A poesia é uma forma de viver. Eu vivo dessa forma e não aprendi outra de lá pra cá. Não mudou nada, só a idade, os joelhos que doem, mas o fígado ainda está bom. Ainda tem muito álcool para transformar em poesia, muita poesia para ser transformada em álcool. Esse é o lado pária que permanece.