[release. Da assessoria]

Fã incondicional de Robert Nesta Marley e Robert Allen Zimermann, os dois “Bobs” mais influentes da música mundial, o poeta maranhense Fernando Abreu acalentou durante anos a ideia de fazer um recital com canções dos dois artistas entremeados com poemas de sua autoria que de alguma forma dialogassem com as canções. Na cabeça tinha o título e o repertório, faltavam apenas a hora e o lugar certos.
Há três anos, a convite da jornalista, produtora e DJ Vanessa Serra, o poeta levou da cabeça para o palco o recital “Bob & Bob – I and I”, na retomada do projeto Vinil e Poesia, voltado para as conexões possíveis entre o texto poético e a canção popular. O resultado foi animador o suficiente para garantir ímpeto para insistir na proposta.
A segunda apresentação se deu ainda em 2023, no Teatro Cazumbá, onde, tal como na estreia, Fernando Abreu subiu ao palco munido de seu próprio violão, acompanhado pelo jovem guitarrista Lucas Ferreira, sobrinho do poeta, compositor, factotum e vocalista da banda roqueira Babycarpets, ex-garotos de vinte e poucos anos ligados em psicodelia, experimentação, Stooges e – Bob Dylan.
Nesta quarta-feira, ainda no clima das comemorações pelos 80 anos de nascimento de Bob Marley (1945-1981), o showrecital está de volta, dessa vez como atração do projeto Quarta no Solar. Mas o que era uma dupla dessa vez ganha ares de banda folk, com a adição de contrabaixo, cozinha rítmica e um inusitado violino, fazendo referência ao clássico “Desire”, álbum lançado por Dylan em 1976 onde o instrumento pontifica em todas as nove faixas, pelas mãos da enigmática Scarlet Rivera. O “sarau” conta ainda com a participação especial de Aziz Jr., tocando “Negro Amor”, versão de Péricles Cavalcanti e Caetano Veloso para “It’s All Over Now, Baby Blue”, imortalizada por Gal Costa em “Caras e Bocas” (1977).
Durante cerca de uma hora, a trupe passeia por várias fases da extensa obra de Dylan e Marley, costurando canções e poemas pinçados dos livros do poeta, à exceção de dois inéditos que estarão em um novo livro, a ser publicado ainda neste ano. Além de “Negro Amor”, o repertório ganha também “Señor”, em versão despojada mais próxima da leitura de um Willie Nelson. Na “faixa-bônus” de encerramento permanece a cáustica “Babylon System”, de Marley: “We refuse to be/ what you wanted us to be/ we are what we are/ that’s the way it’s going to be”. (“Nós nos recusamos a ser/ o que vocês querem que a gente seja/ nós somos o que somos/ e é assim que vai ser”).
De um total de 11 canções, oito são cantadas no inglês original. As exceções são “Small Axe”, canção guerreira dos primórdios dos Wailers que virou “Machado Afiado”, na versão livre de Abreu em parceria com o poeta Celso Borges (1959-2023). O célebre refrão do hino imortalizado pela banda The Gladiators ganha sabor marcadamente regional, mas não menos ameaçador: “você me dá pão e circo/ querendo se dar bem/ mas o pau que dá em Chico/ dá em Francisco também”.
Da fase cristã de Dylan, “Um dia você vai servir a alguém” é a segunda canção entoada na língua pátria, versão de outro convicto dylanófilo, Vitor Ramil, para “Gotta serve somebody”.
A trinca se completa com a longa “Simple Twist of Fate”, onde a dupla de poetas se permitiu um nível tal de liberdade a ponto de homenagear o cantor Chico Maranhão, que aparece citado na música. Libertinagens à parte, os poetas acreditam ter se mantido fiel ao espírito da canção gravada por Dylan em “Blood on the tracks”, de 1975.
Além de reafirmar conexões entre poesia e música popular, o recital presta um despretensioso tributo a dois heróis culturais do século XX. Dylan, um dos construtores do rock como obra de arte, ganhador do Nobel, e Marley, o único superstar mundial egresso de um país na periferia do capitalismo, autor de “Exodus”, disco considerado o mais importante do século XX pela revista Time. “Não tenho conhecimento de nenhuma iniciativa que una a obra desses dois bardos pop, que tem muito mais a ver entre si do que seus primeiros nomes: uma obra capaz de despertar identificação com pessoas do mundo inteiro em gerações diferentes. É isso que celebramos sempre que subimos ao palco com essas canções”, pontua Fernando Abreu.
Roots, rock, reggae! – Quando o rasta diz “I and I”, está dizendo: eu, meu espírito em unidade com o sagrado e com todas as coisas. Quando Bob Dylan gravou “Infidels”, em 1983, levou dois rastamen da gema para o estúdio: os lendários Sly Dunbar e Robbie Shakespeare (1953-2021). A presença da dupla garantiu que o reggae se insinuasse por todas as oito faixas, a partir do baixo e da bateria, incluindo a clássica “Jokerman”. Quem tiver ouvidos que ouça. Mas não é tudo: o disco, que pode ser chamado (com algum exagero, claro), de o disco “rasta” de Bob Dylan, traz ainda uma canção de complexo misticismo, chamada justamente “I and I”, uma canção que ameaça se transformar em reggae a cada virada de bateria.
Dylan deve ter sacado que a expressão rasta traduz o mesmo sentimento de comunhão universal a partir da experiência individual experimentado, por exemplo, por Walt Whitman (1819-1892), e que resultou em “Folhas de Relva”, especialmente no poema “A Canção de Mim Mesmo”. O mesmo que termina dizendo “sou amplo, contenho multidões”. Pois não custa lembrar que o último disco do agora octogenário bardo, “Rough and Rowdy Ways”, lançado em 2022, traz uma canção calcada na obra de Whitman, chamada “I Contain Multitudes” (Eu Contenho Multidões). I and I. O Ciclo se fecha.




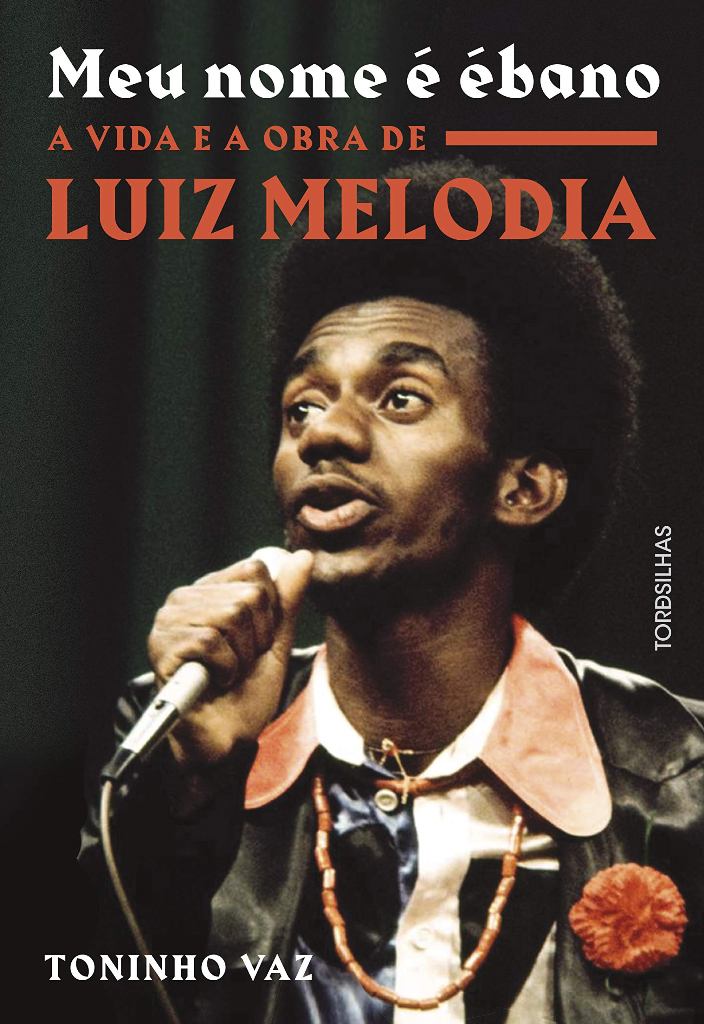




 Passo Torto
Passo Torto Serafim
Serafim Setembro
Setembro