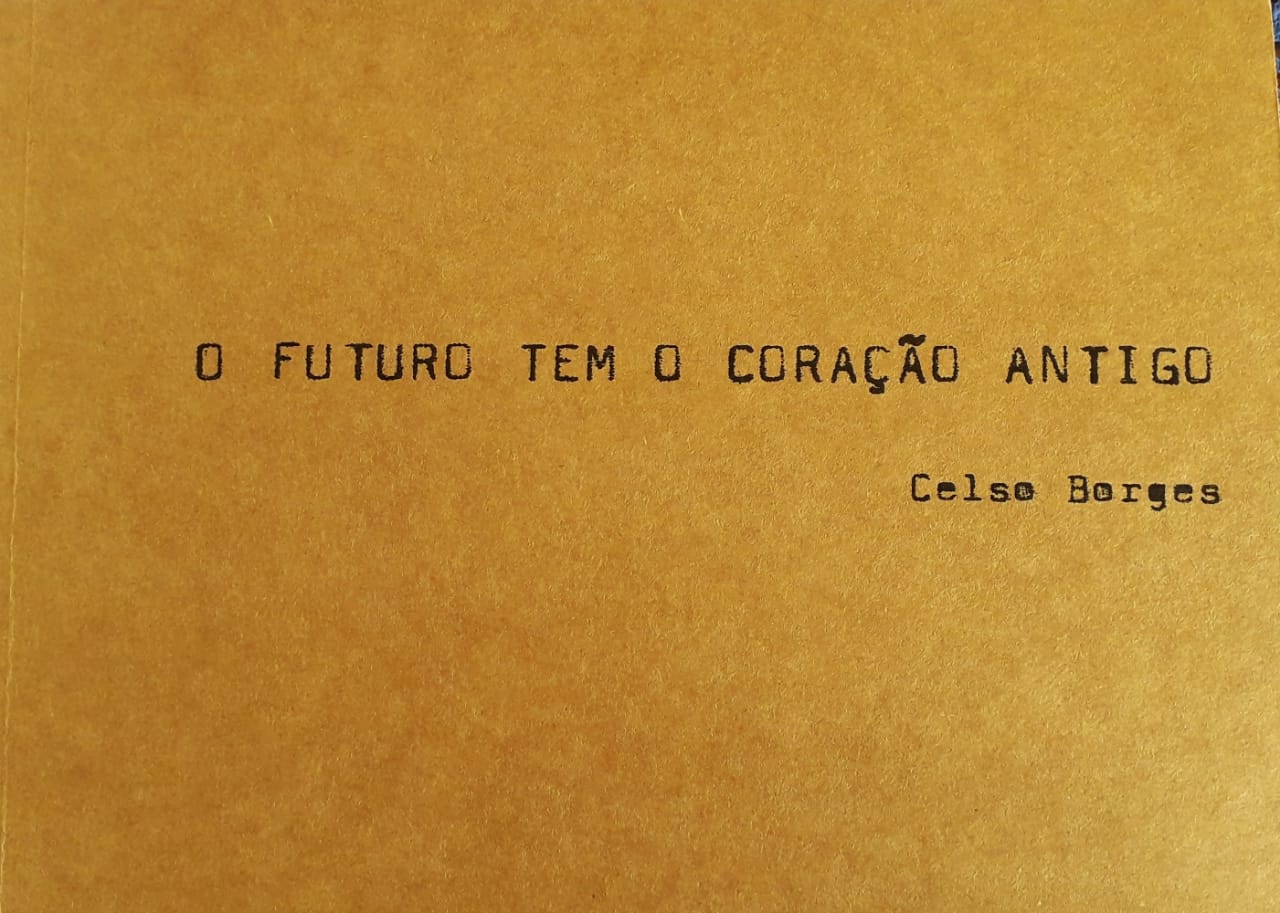Sábado passado (27) o Reviver Hostel (Rua da Palma, Praia Grande) foi palco do show de lançamento de “O Homem Que Virou Circo” (2023), novo álbum do cantor e compositor Marcos Magah, produzido pelo conterrâneo Zeca Baleiro.
O trabalho encerra uma trilogia, iniciada com o álbum de estreia “Z de Vingança” (2012) e continuada com “O Inventário dos Mortos (Ou Zebra Circular”) (2015). “O Homem Que Virou Circo” conta com participações especiais de Odair José (em “Estação Sem Fim”) e Bárbara Eugênia (em “As Coisas Mais Lindas do Mundo”, parceria dele com Celso Borges [1959-2023]).
Entre a doçura e a revolta, como salienta o produtor, o terceiro álbum de Magah preserva suas características essenciais, que tem marcado sua trajetória solo – o cantor integrou a banda Amnésia, com que ajudou a consolidar uma cena punk em São Luís, a partir do bairro do Cohatrac – com seu passeio desenvolto entre o punk, o rock e o brega, com letras inteligentes e instigantes.
Na véspera do show de lançamento, que acabei perdendo (por motivos de força maior), acompanhei um pedaço do último ensaio no Estúdio 2F Sonato (Vinhais). Na ocasião, a convite da produção, conversei com Marcos Magah e Zeca Baleiro – e por motivos idem, só agora consigo postar a conversa.

ENTREVISTA: MARCOS MAGAH E ZECA BALEIRO
ZEMA RIBEIRO: Antes de Baleiro ir se aventurar em São Paulo em busca do sonho de viver de música, teve uma trajetória aqui por barzinhos na noite de São Luís, que era mais ou menos a mesma época em que o Magah ajudou a consolidar ali a cena punk, a partir do Cohatrac, com a banda Amnésia. Naquela época vocês já se encontravam? Como é que era essa relação na década de 1980?
MARCOS MAGAH: Rapaz, a gente se via, cidade pequena, a gente chegou inclusive a dividir palco, acho que em 1990. É 89, 90, no festival São Luís Rock Show e a gente dividiu no Coqueiro [bar], que era o festival muito louco de rock and roll [risos], e a gente dividiu o palco lá uma vez, nesse festival que eu me referi agora. São Luís, cidade pequena, todo mundo acaba se olhando em algum momento. Lá na frente, a gente acabou se encontrando novamente no filme do Neto Borges, que foi o “Ventos Que Sopram”, quando a gente começou a pensar em trabalhar junto.
ZR: Baleiro, você sempre teve uma atenção muito grande, voltada sobretudo para artistas do teu lugar, São Luís, do Maranhão, e ao longo desses anos de carreira, 26 já, isso se contarmos só a partir do disco de estreia, e você sempre deu uma força, colaborou, produziu, enfim, ajudou também a colocar nomes aí no radar. O que te chamou a atenção na obra de Magah que você resolver produzi-lo?
ZECA BALEIRO: Bom, e aí, Magah? Falo a verdade ou minto? [risos]. Só te corrigindo: não era sonho, não, era desespero mesmo. Quando eu saí daqui para São Paulo era uma tentativa de alargar os horizontes, e falo isso sem desabonar a cidade que eu amo, que eu adoro e tal, mas eu tava num momento pessoal muito confuso, muito conturbado e numa vibe muito sexo, drogas e rock and roll, mais drogas do que sexo na verdade [risos]. Eu fui para buscar outros caminhos, para me aventurar, para buscar crescimento, desenvolvimento para mim, como pessoa, como artista e por outras demandas também que não vêm ao caso. Lá no meu bairro, no Monte Castelo, tinha uma turma também, Ricardo, me ajuda aí a lembrar [pede para Magah], que eram de uma banda, ali perto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a turminha que se reunia ali se correspondia com Arnaldo Baptista. Tu [apontando para Magah] era da Amnésia, tinha a Ânsia de Vômito, os nomes eram maravilhosos [risos], e eu era amigo deles, assim, amigo de bairro, da gente se encontrar e tal. Naquele tempo, não só em São Luís, no Brasil de uma maneira geral, essas prateleiras da música eram muito essa segmentação, era até de uma natureza mais social, a galera do rock não se misturava com a galera do samba, que não se misturava com a galera da chamada MPB, que quiseram chamar de MPM aqui, e eu era aberto. Eu gostava de música popular, me interessava por música popular de uma maneira geral, então eu era tanto amigo de Joãozinho Ribeiro, que é um cara que cultua a Velha Guarda, Noel [Rosa, compositor (1910-1937)] e tal, como podia ser amigo de Ricardo e de Magah, de outros caras. Masa gente não foi de fato, assim, amigos. A gente era ali contemporâneo, olhava ali com o interesse aquela cena, a gente esteve juntos nesse festival, eu lembro até que eu entrei com a minha banda, todos pintados, e todo mundo ficou “estão pensando que são os Secos e Molhados?”.Mas era uma brincadeira, uma provocação. Depois, o Magah esqueceu de contar, que ele perambulou por São Paulo e nessa época o Fernando Abreu, parceiro, poeta parceiro comum dos dois, escreveu: “Zeca, te lembra de Magah? Ele tá em São Paulo”. Eu tava na época viajando muito, a gente não conseguiu se encontrar, mas ele mandou três letras por e-mail. Uma delas virou a nossa primeira parceria, “Eu Chamo de Coragem”, está no “O Amor no Caos – volume 2“, aí veio o documentário, a gente se aproximou, ele mostrou umas canções e eu falei “pô, vamos fazer repertório”, e foi assim.
ZR: Agora depois dessa tua ida para São Paulo tu acabou te tornando uma espécie de embaixador, né?
ZB: Eu detesto esse negócio de embaixador.
ZR: É, detesta, mas assim, é porque tu nunca negou a mão a quem precisou.
ZB: É porque é amor mesmo, cara. O cara pode ser capixaba também, e eu aliás fiz, por sinal, com a obra de Sérgio Sampaio. Naturalmente, tem que ter um entendimento da vivência do cara, que pode ser Magah ou pode ser Antonio Vieira (1920-2009), da dificuldade dos meios de produção, que mesmo hoje São Luís ainda é uma cidade com muita dificuldade, como é Aracaju, como é Maceió, como é qualquer cidade menor assim, né? Não é uma metrópole como Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Agora essa coisa de embaixador, desculpa, até posso ter sido descortês, mas é porque isso de embaixador passa um pouco uma ideia de oficialidade, sabe? E eu detesto qualquer tipo de oficialidade [risos]. Eu não sou embaixador de nada. Eu posso gostar do cara sendo maranhense, piauiense ou cearense. Naturalmente eu não me afastei, como outros artistas fizeram um afastamento, às vezes até normal, né? Por exemplo, Alcione, de quem eu sou muito fã, hoje é mais associada à cultura musical do Rio, à Mangueira do que aqui, embora ela nunca vá deixar de ser maranhense, profundamente maranhense. Por uma natureza minha mesmo, assim, pessoal, eu gosto de estar aqui, sinto um pertencimento, me sinto fazendo parte de uma coisa, me sinto inserido nisso aqui como o meu lugar, mesmo que eu vá morar na Romênia. Uma vez dividindo os microfones, o palco, a cena com Ferreira Gullar (1930-2016), um programa que o Tony Bellotto tinha, não sei se tem mais, na TV Cultura, “Afinando a Língua”, juntou o Ferreira Gullar e eu, e a gente conversando e o cara perguntou pro Gullar: “a origem importante, Ferreira Gullar?”, e ele falou: “rapaz, tudo que a gente tem, a única coisa que a gente tem, é a origem, é onde a gente nasceu, de onde a gente veio, o lugar ao qual a gente pertence, todo o resto é incerto, agora a origem é definitiva”. Eu achei isso lindo. Eu repito isso como um mantra. Eu nunca neguei minha origem.
ZR: Sábio Gullar. Esse reencontro no decorrer do processo feitura do documentário do Neto Borges, o “Ventos Que Sopram”, eu até acompanhei parte das gravações aqui em São Luís, é impossível a gente não lembrar de um parceiro comum também de vocês, Zeca até fez a devida homenagem no show de ontem, a Celso Borges. Queria um depoimento de vocês sobre essa figura tão importante para todos nós.
MM: Rapaz, eu conheci Celso quando eu tava em São Paulo, essa ida a que Zeca se referiu há pouco. Aquela história da cidade pequena, que todo mundo se vê e tal. Mas às vezes não tem contato, uma intimidade, então. E aí em São Paulo, eu fui chamado para fazer uns shows que era eu, ele e o poeta Reuben, o CavaloDada. E aí nós fizemos uma série de quatro shows juntos lá e nessa história de fazer show, o Reuben, eles estavam os dois trabalhando, eu me lembro bem dessa cena, principalmente esses dias aí, e ele me chamou, o Reuben, né? Eles iam fazer uma história lá que eles recitavam poesia e eu cantava as canções, aquelas divisões que se faz, né? E o CavaloDada falou para ele assim, “cara, tu precisa olhar as letras do Magah”, e ele falou para mim assim: “então recita aí alguma coisa”, aí eu falei uma dessas letras que eu faço [risos] e ele ficou assim, gostou muito, e aí era para ser só um show e a gente acabou fazendo quatro e surgiu o lance da amizade. E a amizade da gente era uma coisa muito bacana, porque Celso era muito mais novo do que [risos]. Ele tinha uma energia, um espírito assim, eu me lembro de uma vez a gente fazendo uma canção chamada “Camboa” e ele escreveu um verso, a gente escrevia um de frente para o outro, cada um com seu papelzinho assim, e ele escreveu um verso, ele ficou tão feliz, cara, que ele subiu na janela. E eu ficava dizendo “Celso, desce daí”, eu preocupado, era uma pessoa mais velha [risos]. Então era assim, cara, era uma relação realmente intensa, e também da mesma forma, tínhamos discussões maravilhosas. Para mim é bem complicado essa coisa de pensar que Celso não tá mais aqui. Ele foi um cara muito importante para mim porque ele nunca se dava por contente. Eu mostrava algo para ele, ele dizia “não, tu faz melhor, estica isso para cá, leva pr’ali”, ele tinha essa coisa, né? E aquela coisa de um bom humor, que jogava a gente para frente. E tava sempre disposto, qualquer projeto que eu dava o toque, vamos fazer, às vezes as minhas propostas absurdas para testar a paciência dele, ele falava “eu topo”, e eu dizia “pô, esse cara é mais maluco do que eu, mano”. É um amigo e parceiro assim, cara, que realmente… as nossas conversas, que iam para muito além das questões artísticas, de criação e tal, coisa de amizade mesmo, de falar sobre coisas, amor, dinheiro principalmente. A gente falava muito de dinheiro, porque a gente não tem nenhum. Quem não tem dinheiro geralmente só fala de dinheiro e a gente conversava muito sobre isso. Meu amigo querido, meu irmão.
ZB: Pra mim ainda é um pouco difícil falar sobre Celso porque ainda estou muito sob o efeito do choque. Toda morte é, de certa maneira, chocante, por mais até previsível que seja, e no caso da do Celso tomou todos nós de surpresa. Foi muito imprevisível e essas pessoas que têm uma vitalidade, uma intensidade muito grande no viver, a gente demora a acreditar. Eu perdi alguns amigos ao longo desses últimos anos e alguns deles eu até hoje não realizei, é difícil realizar. É difícil vir a São Luís, por exemplo, e imaginar que eu não vou encontrar Celso, que a gente não vai se provocar mutuamente, às vezes até brigar como a gente brigava, porque era uma relação de irmão mesmo. “Baleiro, esse disco aí eu tou achando ele meio repetitivo”, “ah, vai se foder, e esse teu último livro aí é o quê, porra?”. Então era assim, era amor mesmo, uma relação de amor, porque não era superficial, era profunda, a gente falava o que tinha que falar. Celso é muito importante na minha trajetória musical, do Nosly, de muita gente. O Celso era um fazedor, né? Quando ele foi diretor da Rádio Mirante ele criou um programa, eu ainda estudava, tinha 14 anos, estudava no Colégio Batista, e a primeira vez, 14, 15 anos, que eu toquei uma música minha. Eu era muito tímido. O Nosly, que era meu vizinho de bairro, ali, de rua, no Monte Castelo, era um pouco mais atirado, foi meu primeiro parceiro, falou: “Zeca, tem um programa na Rádio Mirante, chama “Contatos Imediatos”. Você vai, toca, aí três caras concorrem na noite, e aí as pessoas telefonam, anos 1980, 83, 84, e o vencedor, quem tiver mais votos ganha uma máquina tira-teima da Kodak e um ticket para comer na Churrascaria O Laçador. Aí eu fui, lembro que nessa noite Nosly foi me acompanhando, dois violões, um baiãozinho, chamava “Sem Pé Nem Cabeça”, foi a primeira vez, e Celso “pô, interessante essa pegada e tal, vamos encontrar”. Ele que coordenava, dirigia o programa, “vamos!”. E aí foi uma saraivada, a gente fez oito músicas em sequência, eu, ele e Nosly, que deu origem ao nosso primeiro show, “Um Mais Um”. É um cara que tá na origem de toda a nossa história. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Fauzi [Beydoun, vocalista da Tribo de Jah] foi nesse programa, tocando “Neguinha”, nem era um reggae ainda, era uma balada. Acho que César Nascimento também, a primeira vez que eu vi o César foi assim. Era um cara que abria muitas portas, tinha essa coisa meio visionária. Quando eu comecei na música, Celso já tinha um certo sucesso, já era uma personalidade, já aparecia na tevê, já tinha uma aparição aqui e acolá, um programa, a Revista Guarnicê, ele já era uma personalidade pública e eu tinha simpatia pela figura dele, pelas coisas que ele fazia, nos aproximamos. Nossas histórias se cruzaram em São Paulo também, ele foi um pouco antes, quando eu cheguei em São Paulo, ele me falou: “Zeca, conheci um cara aí da Paraíba, não tem nada a ver contigo, mas tem tudo a ver contigo, tu vai entender. Chama-se Chico César, trabalha na revista Elle, a gente se conheceu aqui na Rádio Gazeta, ele veio gravar um programa, vocês dois vão se amar”. Aí eu cheguei em São Paulo. Fui de carro, com a Solange, minha companheira na época, e no caminho o amplificador, nos sacolejos das estradas do Piauí, a gente passou 20 dias viajando num Fiat Uno, chegou quebrado em São Paulo e eu precisei de amplificador. Liguei para os amigos e Celso disse: “rapaz, liga para aquele cara, ele deve ter, o Chico César, liga para ele”. Ele me deu o telefone, liguei para o Chico, nos encontramos lá na Paulista, na frente da TV Gazeta, fui até a casa dele, no meu carro, lá em Santo Amaro, que era longe para cacete, passamos a noite tocando, eu, ele e Celso tocando e ele me emprestou o amplificador. Enfim eu pude fazer o show, importante, passamos a noite tocando e realmente ficamos encantados um com o outro. Entendi exatamente o que o Celso queria dizer. Éramos diferentes, mas éramos muito afins. E ele estava tão certo que a nossa amizade permanece até hoje, inclusive vai resultar num disco até o fim do ano, início do ano, a gente vai lançar. Então o Celso é um cara muito importante, tem essa coisa de agregar pessoas. Isso é muito importante na cena cultural de qualquer lugar.
ZR: Curioso essa essa memória de vocês de Celso, essa intensidade com que ele vivia e produzia. Quer dizer, partiu fisicamente ainda no auge da capacidade criativa e está presente no disco mais novo do Magah, “As Coisas Mais Lindas do Mundo”. Queria agora focar um pouquinho no álbum, eu lembro que quando tu lançaste o “Z de Vingança”, há mais de 10 anos, já falava numa trilogia, né? Que depois veio “O Inventário dos Mortos” e agora “O Homem Que Virou Circo”. Acho que isso demonstra uma organização muito grande. Queria que você falasse um pouco desse processo, de criação do álbum, de composição. Como é que foi isso?
MM: Rapaz, eu vinha escrevendo. Eu tinha a ideia de lançar esse disco, inclusive Celso foi comigo uma vez no estúdio, até para registrar algumas canções. Eu tinha a ideia do disco, o tema, algumas canções como “Ela Nunca Teve Ninguém”, eu já tinha algumas canções, “O Homem Que Virou Circo” e tal. E eu tinha ideia de registrar, de fazer esse disco. O problema é que toda vez que eu entrava no estúdio eu não achava uma liga com um produtor. O cara achava esquisito aquilo ali, queria me propor uma outra coisa lá e eu falava: “não cara, eu quero fazer isso aqui, independente de [qualquer opinião que] não, que isso aqui não vai dar certo”. Eu falei: “não, cara, eu não eu não dei certo até agora, eu não estou preocupado com isso, não, velho. Eu tô querendo registrar o disco, não interrompe a minha felicidade” [risos]. E aí eu tentava sempre, três tentativas com produtores diferentes e tal, até que encontrei com o Zeca e a gente começou a falar sobre o disco, que tem uma coisa que eu e ele, a gente gosta de coisas parecidas, assim, a gente não vê muito fronteira de música e tal. E quando a gente começou a pensar o disco eu remodelei muitas canções. Essa parceria minha com Celso, eu adoro essa música, sabe?, eu gosto demais dessa música. Eu chamei ele, essas coisas do Celso, é impossível não contar alguma coisa, “eu quero fazer uma música assim”, e ele me perguntou pelo telefone “onde é que tu tá?”; aí eu digo: “cara, eu tô aqui na casa tal”; ele: “me aguarda que eu tô chegando aí!” [risos]. Isso era Celso. E aí eu comecei a remodelar as canções, ia amostrando para Zeca, algumas coisas, “isso aqui tá bom, isso aqui não e tal”. E acabou virando esse disco. Eu fiquei muito satisfeito assim com o resultado, porque eu gravei exatamente o que eu queria gravar, não sei se eu tô respondendo tua pergunta. Mas outro dia eu vi uma coisa engraçada, o cara disse que eu que eu me vendi e tal. Eu digo: “pô, eu preciso olhar o comprador”, não tenho ideia de quem me comprou até agora, que eu fiz concessão. Pô, cara, se tu for escutar o disco, eu não entendo, não tem concessão, ali eu fiz exatamente o que queria, a gente nunca conversou sobre “não, vamos mudar isso aqui”, não. A gente não é bobo, né,cara? Não faria sentido. Não tinha porquê. Umas coisas assim engraçadas, quando a gente tava fazendo o disco, talvez valha o registro, é que vem eu e Zeca dentro do carro e eu falei assim, “pô, Zeca, eu quero te dizer uma coisa; rapaz, eu gostaria que tu não cantasse no disco”. E ele falou: “bicho, eu estou pensando a mesma coisa” [risos].
ZB: Todo disco que eu produzo eu canto e eu desde o início falei: “Magah, acho que nada a ver, vamos buscar outras pessoas, tentar o Odair José, Fernando Mendes, alguém com quem você tenha uma afinidade”. Eu preferi tocar, toquei teclado, percussão, assobiei no disco, criei as linhas de baixo, mas cantar, não [risos]. Eu cantar era um caminho fácil, óbvio.
MM: Nós dois estávamos pensando a mesma coisa.
ZR: Como é que foi a costura das participações especiais de Bárbara Eugênia e Odair José?
ZB: O Magah mostrou as músicas e tal, eu mandei as quatro que tinham esse acento mais brega descarado, embora o brega do Magah seja muito sofisticado, mas tem esse flerte com essa música mais popular, então mandei quatro e falei: “ouve aí, Odair!”, e ele falou: “eu gostei dessa, essa aqui é a minha cara”. E o desgraçado do Odair é tão talentoso, bicho, é aquela coisa, a gente cola no clichê, na lenda que se forma em torno do cara, às vezes deixa de ver o real, o cerne da coisa. Ele mandou a música transformada. Para melhor! Ele deu uma melhorada, a música já era boa.
ZR: Quase vira parceiro.
ZB: Quase vira parceiro. É. Eu até falei: “Odair, você não quer? Você fez o arranjo”. “Não, eu não quero, é só como eu li a música. Eu gostaria que vocês gravassem assim”. O Magah falou: “porra, ficou demais”. Ele releu a música, se identificou, pegou o violão e fez. Mostrei, falei: “vamos fazer exatamente o que o Odair fez, só que com banda: bateria, baixo, guitarra e órgão”. Ficou aquilo. Gênio, né? O cara que tem um entendimento da música, da canção, como poucas pessoas. E a Bárbara eu tava produzindo o disco dela, calhou de, no mesmo tempo. O disco do Magah durou uns três anos, porque a gente começou em janeiro do ano da pandemia. 2020, né? A gente gravou as primeiras bases de voz e violão no Estúdio Zabumba aqui, levei. E aí a pandemia veio e ferrou tudo, né? Fez a gente postergar tudo. Aí fui fazendo devagarinho, voltei, fizemos mais uma bateria de canções, foi mudando também o repertório. Magah dizia: “ah, eu fiz uma nova safra aqui que eu acho que tem mais a ver” e assim foi. E a Bárbara estava justo em processo, ele falou: “adoro ela, cara, adoro o timbre dela. Vamos achar uma música?”. Quando ele mandou a parceria com Celso, eu falei: “é essa aí, vai ficar linda na voz dela”; ele não queria nem cantar [risos]; “tá tão bonita que eu não vou nem cantar”, ele me disse; o disco é teu, tem que cantar; e ficou lindona, né? Parece uma música assim, um folk americano dos anos 50, 60, tem um traço especial.
ZR: Quando a gente ainda estava esperando Baleiro, eu estava vendo um pedaço do ensaio e vocês falaram numa coisa de não fazer concessões, de não pensar na coisa de transformar o trabalho do Magah para ser palatável. E aí teve uma mudança na banda e, “ah, agora tá soando como Magah”; e eu disse: pode botar Magah com a Filarmônica de Berlim que sempre vai ter uma coisa brega e punk ali, que é o traço dele. Isso facilitou a produção do disco, essa coisa de não ter que repensar muita coisa?
ZB: Não. Dificultou [risos]. É o seguinte: tem dois tipos básicos de gente no mundo: o cara que mesmo certo tá errado e o cara que mesmo errado tá certo. Magah é do segundo time. Então, assim, musicalmente falando por exemplo, ele tem uma forma de respirar, uma compreensão do ritmo da música, muito particular. Tem outros artistas que são assim: Chico. Chico César, tocar com ele é super difícil, porque ele tem umas coisas que não são óbvias, de compasso, ele mete os compassos, e é intuitivo, coisa de origem, atávico, quebra a matemática, bota um compasso de 5 por 8 no meio de um 4 por 4, é um negócio assim, e Magah tem, a seu modo também, com essa viagem roqueira que ele tem, faz compasso muito louco. Teve uma música lá que eu falei assim: “essa aqui a gente não vai conseguir botar metrônomo, botar um clique para poder depois a banda gravar”. Então o que que eu fiz? É aquela “Eu Gosto de Ler a Bíblia”. Eu falei: “grava aí do teu jeito, respira do teu jeito, canta do jeito que tu acha, o povo lá que se foda, a banda lá”; aí a gente foi, passamos uma noite lá, o Kuka [Stolarski], baterista, ficou contando os compassos, “não, aqui tem um compasso de cinco, aqui tem um compasso de três”; eu falei: “escreve a partitura aí, bicho, trabalha”; aí ele fez todo o mapinha, mas ficou sensacional, porque ficou do jeito que ele faria mesmo. A gente não tentou fazer caber numa quadratura mais careta, mas conservadora, mais lógica. Não teve isso. O rock dele tá preservado. Agora, talvez até porque o cara tá ficando um senhor, as canções, tem uma canção ou outra com uma certa doçura, tem uma raiva, uma revolta aqui, mas tem uma doçura ali, faz parte também. Mas não tem esse negócio de concessão, isso é besteira. O rock precisa também, os amantes do rock, desse imaginário rock, precisam dessa coisa meio antissistêmica, assim, “você se vendeu”. Eu lembro, vou contar um episódio. Quando eu gravei o Charlie Brown Jr., que inclusive era rock, mas uma galera mais assim, ficou, teve um happening punk, assim, lá em Recife, o pessoal no carnaval se virou de costas na hora que eu toquei a música, eles queriam que eu tocasse “Vô Imbolá”, “Heavy Metal do Senhor”, essa faceta mais atrevida, mais rítmica, pós-mangueBit, aquela coisa. E quando eu toquei eles se viraram. E outro garoto em Londrina falou assim: “me decepcionei com você, bicho, você se vendeu para o mercado”. Aí eu falei: “cara, não, rapaz, você não tá entendendo o que é isso, isso é outra coisa”. Aí eu voltei lá três anos depois, ele tinha me perdoado com “Pet Shop Mundo Cão” (2002) [risos]. “Tá perdoado, tá perdoado”. Então tem essa coisa, faz parte, “o cara se vendeu”,a gente também tinha isso quando jovem, curtia uns caras, aí de repente, Rita Lee (1947-2023) era isso, era uma loucura com Mutantes, com o Tutti-Frutti, depois entrou Roberto de Carvalho, só com o tempo que você vai avaliar, aquela obra também é fantástica. Era mais pop, era mais radiofônica, era mais comercial. Mas ainda assim era brilhante, era sensacional. Então, essas avaliações fazem parte também desse imaginário do rock. É bom até, né? Tem uma cena maravilhosa no documentário do Jards Macalé. Perguntam ao [cantor e compositor Gilberto] Gil: “Gil, mas o quê que você acha, Macalé, esse artista que nunca fez concessão?”. “Nunca fez concessão, é? Eu não conheço ninguém que nunca tenha feito concessão”. Não tem como viver sem fazer concessão. Mas não é o caso aqui.
ZR: Magah em estado bruto, mas de algum modo também, lapidado.
MM: Bruto, porém nem tanto.
ZB: Os brutos também amam [risos]. Essa coisa da produção, eu não sou assim um produtor, no sentido tecnológico do termo, como Liminha é, como Brian Eno é e tal. Eu sou produtor no sentido de arregimentar, de orientar, de dar um caminho. E de respeitar o que o cara é, porque se for pra descaracterizar, então, ele que arranje outro. É para extrair o melhor dele, se eu puder fazer, ajudar nisso, eu tô dentro. Se for para estragar, arranje outro.
MM: Tem uma coisa que perde o sentido, porque o que, no caso, atraiu um produtor como Zeca, foi aquilo que os caras acham que você deveria como produtor, descaracterizar. Se o que te atraiu foi aquilo, é aquilo que deve ser preservado, é o coração.
ZB: Lapidação era um termo mais técnico, de fazer, de botar bons músicos tocando, bons técnicos mixando, masterizando, dando timbres, esse cuidado com timbres, mas eu acho um disco rock pra cacete. Você não acha, não?
ZR: Sim, acho. Baleiro precisa ir para o cortejo [parte do elenco de “Dom Quixote de Lugar Nenhum”, musical de Ruy Guerra com trilha sonora de Baleiro, faria um cortejo àquela tarde, na Praia Grande], Magah precisa continuar o ensaio. Vamos fechar falando do show de amanhã, o lançamento d“O Homem Que Virou Circo”, no Reviver Hostel. Banda, participações especiais, e reforçar o convite para a rapaziada que tá assistindo a gente [esta entrevista foi gravada em vídeo, mas problemas técnicos impediram o upload no youtube].
MM: Pois é, a gente vai estar lançando agora, sábado, 27, amanhã, né?, “O Homem Que Virou Circo”, cheio de participações especiais. Em primeiro lugar, eu quero citar aqui a minha banda, a Magahdelic Band, é uma banda assim, é quase a The Band, tu tá entendendo?, só que no Maranhão [risos], então acompanhado da minha banda, a gente vai ter a Vanessa Serra, DJ que eu gosto pra caramba, o amor que ela tem pelo vinil, as coisas que ela põe lá.
ZR: Fala os nomes da banda.
MM: Sim, citar os integrantes da banda. O Eduardo Pinheiro na guitarra, assim que eu olhei ele tocando, cara, primeira vez eu imediatamente chamei ele, “chega aqui, cara, vamos tocar ali”, ele já conhecia meu trabalho e tal e ficou contente para caramba, então o Eduardo na guitarra; o Gus Mendes que é um baixista também que eu olhei assim, garotão da noite. É só garoto, né? De idoso só tem eu. Eu só pego garoto!
ZR: A galeria do amor.
MM: [risos] Quando eu lancei o “Z”, a canção que abria o show era esta, né, “Galeria do Amor” [do repertório de Agnaldo Timóteo (1936-2021)], e ficou todo mundo assim, esse cara, e ficou muito bonito. Aquilo ali é rock, aquela linguagem maravilhosa, libertária, linda. O Gus Mendes no baixo, o Diogo nos teclados e efeitos e meu querido Taylor na bateria. Essa é a Magahdelic Band, uma banda que tem uma facilidade para fazer concessão, então é a banda perfeita pra mim.
ZB: Concession Band.
MM: É, Concession Band [risos], a gente vai mudar o nome. E é isso, cara, se eu estiver esquecendo alguma coisa o Baleiro vai completar aqui a parada de sucesso.
ZB: Nada mais a declarar. Só dizer que fico muito feliz de ter feito essa parceria com Magah. Peço desculpas pela demora na entrega do trabalho, mas a gente vai falar todo mundo ainda, que tem uma lista de agradecimentos. O show tem a produção de Aziz Jr., Samme Sraya, Tiago Máci, que também é nosso parceiro.
MM: A participação da Dicy, cantando comigo “As coisas mais lindas do mundo”. Também vai ficar lindo com ela, cara, também sou fãzão.
ZB: E é isso. Acho que a missão está cumprida, era fazer um disco, um disco genuíno, assim, não que os discos dele anteriores [não fossem], eu adoro os discos dele, mas quando eu ouvi as canções, falei, “poxa, eu sei exatamente o que fazer com isso, eu acho que sei exatamente o que fazer com isso”, sem também descaracterizá-lo, sem levar para um outro caminho, sem tentar fazer o que não é, porque as coisas são que são. O que não é o que não pode ser o que não é o que não pode ser o que não é, né? Aquela coisa lá [citando a música dos Titãs], então, eu ouço com o maior prazer esse disco, o que é um bom sinal, porque depois que eu produzo alguma coisa, eu passo um tempo assim, tenho um tempo de afastamento. Mas é um disco que eu ouço com muito prazer, boto, recebo amigos, boto para ouvir e as pessoas curtem muito as letras, né? Porque canção é mais do que só música, é a ideia também, né? E o Magah, nesse sentido, é um cara brilhante, tem ideias incríveis, originais e por isso ele é o que é.
*
Ouça “O Homem Que Virou Circo”: