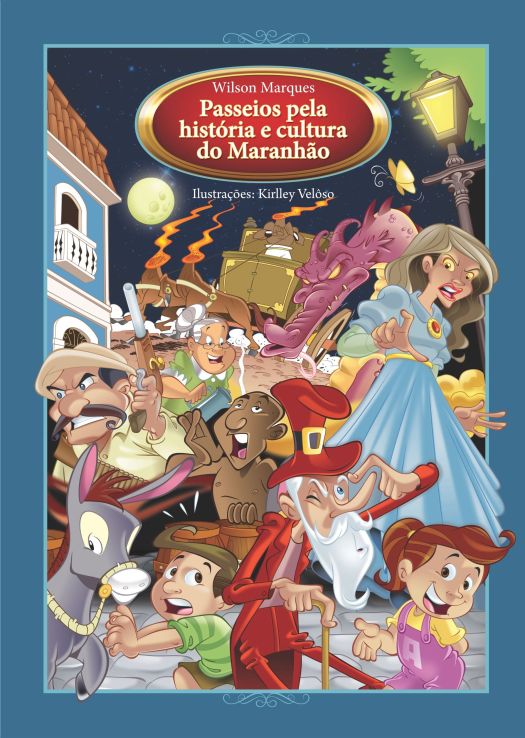FLÁVIO REIS*
Pode causar estranheza o título deste artigo em plena reta final de campanha da consulta eleitoral na UFMA para a indicação aos cargos de reitor e vice-reitor no período 2015-2019. Afinal de quem se trata?
Edgard Santos, médico, foi reitor da Universidade da Bahia num longo período, entre 1946 e 1962. Oriundo das elites provinciais, mas com uma percepção que ia muito além do provincianismo, fez uma leitura do momento enquanto possibilidade de “recolocar a Bahia no mapa do Brasil” através da cultura, tornando a universidade o dínamo de uma agitação cultural, favorecendo o florescimento de iniciativas variadas no amplo arco da produção estético-intelectual. Apesar de uma noção de cultura ainda herdeira do iluminismo, sem consciência da riqueza do universo antropológico da Bahia, teve abertura suficiente para criar o pioneiro Centro de Estudos Afro-Orientais, e, principalmente, não se dobrou ao nacionalismo mais estreito da época, abrindo as portas para o vanguardismo estético, abrigando figuras iconoclastas nos campos da música, do teatro, da dança, do design.
A geração que participou dessa experiência foi a juventude inquieta e criativa de Glauber Rocha, Caetano Veloso, Tom Zé, Waly Salomão, Rogério Duarte, Helena Ignez, João Ubaldo, Carlos Nélson Coutinho e tantos outros que estariam entre os da linha de frente na revolução cultural desencadeada no final dos anos 60. Na germinação do processo, o encontro entre uma cultura popular viva, diversa e uma instituição universitária que não se submetia simplesmente aos cânones demarcados pelo Ministério da Educação, estando aberta à experiência criadora. Depois de Edgard Santos, logo vieram os militares, a truculência e a uniformização, a burocratização e a burrice. Reestabeleceu-se a desconexão entre as energias da sociedade e a vida universitária.
A Universidade Federal do Maranhão, às vésperas do primeiro cinquentenário, é mais recente que sua congênere baiana, muitos gostam mesmo de enfatizar sua infância frente às latino-americanas, mas, para os padrões nacionais, ela já possui idade suficiente para ter os traços característicos impressos em padrões de atuação bem discerníveis. Neste trajeto é possível detectar dois períodos de reitorados longos: Cabral Marques (1979-1989) e Natalino Salgado (2007-2015), que coincidem com dois momentos de expansão da universidade brasileira a partir das políticas do governo federal. No primeiro caso, sob o domínio da ditadura e, no segundo, sob os recentes governos de Lula e Dilma. O ponto a destacar: a expansão sempre se deu a reboque do estímulo externo e feita a toque de caixa, no ritmo do aparecimento das verbas e ao sabor do que era imposto ou oferecido pelas decisões do Ministério da Educação, com escassa fermentação interna.
Nascida numa sociedade ainda largamente oligárquica, vale dizer, numa sociedade extremamente desigual, onde o compadrio, o clientelismo e o predomínio dos laços de dependência patrimonial, com sua teia de favores através da utilização da máquina estatal, são características indisfarçáveis, a universidade funcionou todo esse tempo quase em circuito fechado, sendo controlada a partir de um núcleo administrativo que comanda com rédea curta o Conselho Universitário. Com pequenas variações essa foi a realidade mesmo depois da ditadura, pois os ventos da real modificação da estrutura administrativa nunca foram além da mera intenção anunciada.
Se olharmos mais de perto, vivenciamos no último longo período até uma regressão chocante neste quesito, pois uma das marcas da gestão de Natalino Salgado foi, sem dúvida, a concentração de decisões, o velho autoritarismo de raiz oligárquica, mas com um matiz ainda mais agressivo, expresso, entre outros, no esvaziamento dos órgãos colegiados, mesmo tradicionalmente submetidos a suas determinações, no desrespeito recorrente ao calendário eleitoral para escolha de Diretorias de Centros, Chefias de Departamentos, Coordenações de Curso ou, mais abertamente, nas ações truculentas de intervenção no Colégio Universitário e na intransigência diante da luta pela moradia estudantil no próprio campus do Bacanga.
No primeiro caso, foi derrotado nas eleições para a nova diretoria do COLUN e, no segundo, derrotado pela força do protesto, pela ação interna de apoio realizada na ação conjunta da APRUMA e do DCE e pela pressão de setores da sociedade civil e da opinião pública em favor dos estudantes. Fora estes dois momentos, no geral reinou soberano, concentrando, de fato, muito mais poderes que no período da ditadura, quando Cabral ainda fazia cumprir determinadas liturgias, já abertamente descumpridas por Natalino Salgado. Lembremos apenas o absurdo do Conselho Universitário ter que ser convocado por interveniência da mesma APRUMA junto ao Ministério Público, pois o reitor simplesmente já nem o convocava.
Não foi à toa, de resto, que tentou algo inusitado, construindo a partir da reitoria chapas que concorreram (e perderam), em duas ocasiões, eleições para a diretoria da associação sindical dos docentes. Por fim, patrocinando abertamente a criação de outro sindicato, com a finalidade de enfraquecer aquele que foi o único espaço institucional não submetido ao domínio centralizador da reitoria.
Mas tal traço de centralização pode ser igualmente identificado na forma como remodelou a bel-prazer o campus universitário, com uma série de construções, várias ainda inacabadas ou mal acabadas, todas sempre muito além do prazo previsto. Atrasos, frise-se, contados não em meses, mas em anos. E obras cujo resultado final chega a ser escandalosamente inferior ao prometido nos projetos arquitetônicos, alardeados em vasta utilização da comunicação institucional para fins de propaganda pura e simples. Nada de consultas, nada de transparência nos gastos, nada de explicações sobre os atrasos, no melhor estilo “faço e desfaço”, como um senhor em sua casa.
Logo na entrada da rebatizada cidade universitária, temos a monumentalidade inacabada do prédio da Biblioteca Central, obra contratada em 30 de outubro de 2010, ao custo inicial de R$ 10.798.253,24 e prazo de execução de 720 dias, completados em setembro de 2012. É interessante comparar o projeto arquitetônico impresso em propaganda institucional e a situação em que ele ainda se encontra, quase três anos (e sabe-se lá quantos aditivos) depois da data prevista para a entrega. Atente-se que a foto não permite visualizar a situação real do interior do prédio, com todo o acabamento por fazer. Sem dinheiro para concluir a construção, deram um jeito de “terminar” nos últimos dias a imponente escadaria para sustentar propaganda eleitoral e sugerir a entrada num prédio inacabado.


Configura mesmo um escárnio a faixa com a propaganda da candidata da reitoria, ostentando como troféu, na maior cara dura, algo que deveria ser objeto de averiguação do Tribunal de Contas da União. Ou quando estabelecemos a mesma comparação entre o projeto apresentado e utilizado nas propagandas institucionais e eleitorais e o choque da realidade, na Casa da Justiça, obra contratada em 1º. de setembro de 2010, com prazo de entrega de oito meses, recebendo os aditivos de praxe e entregue apenas recentemente. É de doer os olhos.


Na mesma linha de desencontros de dimensões surreais, o que dizer, então, do projeto da Concha Acústica, obra cujo contrato inicial era de 2009, com prazo de entrega em 180 dias, que recebeu um aditivo em 2011 e foi inaugurada na SBPC, no ano seguinte?


Note-se que a UFMA possui cursos de música, de teatro, de artes visuais e a cidade é identificada como espaço de variadas manifestações da cultura popular, mas a própria universidade não tem um teatro, uma galeria, não favorece as trocas, não cultiva espaços de encontro, não aproveita o enorme potencial de gerações que são literalmente amputadas de qualquer anseio criativo. E isto num estado onde as secretarias de cultura são fracas, quase apenas balcões de acesso de grupos organizados às minguadas verbas do setor. Preocupada em construir grandes auditórios para convenções, a reitoria fez pouco caso de toda uma área estratégica para a nossa própria identidade. Manteve firme o pacto de mediocridade com as velhas academias de letrados e a mídia predominante em torno do autoelogio, sem dúvida a expressão mais acabada de nossa esclerose, passando ao largo de qualquer crítica da cultura. Essa concepção pautada no espetáculo, na concessão de honrarias, no discurso vazio e nas solenidades, desconectada dos processos sociais, está sintetizada no projeto de utilização do prédio da antiga Faculdade de Farmácia e Odontologia para instalação do “Palácio da Ciência” (sic). Em pleno século XXI, isso tudo é de um anacronismo de causar espanto.
Fiquemos com estes três, mas a referência aos projetos inacabados poderia ser muito mais ampla, passando pela TV UFMA, de 2008, alardeado na última campanha como “uma realidade para 2012”. Até hoje continua na promessa. Ou pelo já histórico prédio da Biologia, obra contratada em 2010, objeto ainda há pouco de matéria televisiva provocada por alunos fartos de tanta enrolação, obrigados a trabalhar amontoados em laboratórios indignos de tal denominação. Poderíamos enfocar o anexo do CCET ou até mesmo prédios bem modestos, como o do Núcleo do Fígado, no entorno do HU, promessa antiga que nunca se efetiva. Exemplos não faltam.
É um retrato tímido do nível de desperdício de dinheiro público a que chegamos nesta administração, alicerçado na total autonomia que o reitor exerceu sobre todo o processo. É o resultado da negação da própria natureza da administração colegiada que, por princípio, deveria reger a universidade. Falo do que vejo cotidianamente e nos agride há anos, mas o que não se verá nos outros campi? De pequenos relatos sabe-se das carências de funcionamento dos cursos, o mesmo enredo de desencontros entre o prometido e o realizado.
Tudo isto foi acompanhado de uma utilização intensa da ASCOM, que deveria ser instância de comunicação institucional, transformada em agência de publicidade da reitoria. Durante seu primeiro mandato, inclusive, abríamos a página da UFMA e dávamos com um retrato na coluna intitulada “Palavra do reitor”. Os alunos, é claro, não perderam a piada cortante, chamando a página de blog do Natalino. O que está em jogo aqui é a própria função da comunicação institucional, posta a serviço da construção da imagem do reitor e de sua administração. Basta atentar para o vasto material que foi distribuído ao longo destes anos com propaganda institucional, agendas, pastas, folders, todas repletas dos maravilhosos projetos arquitetônicos, tabelas sobre a ampliação do número de alunos, de cursos de graduação e pós-graduação etc. Além da utilização aberta da máquina burocrática da reitoria em períodos eleitorais, como vimos em 2011 e seguramente veremos com violência ainda maior neste pleito.
Por baixo do mundo das imagens, no entanto, a realidade cotidiana vai se mostrando outra, a universidade carece de vida, o aumento dos números não esconde o esvaziamento constante do campus, existe pouca articulação entre suas unidades, falta autonomia aos departamentos, os funcionários são insuficientes e as lacunas supridas com a exploração de bolsistas, os alunos são praticamente ignorados, com uma péssima prestação de serviços, seja de restaurantes, bibliotecas, espaços de convívio, disponibilidade de equipamentos, transporte. A cidade universitária possui igualmente outra face, cada vez mais evidente, de circo de horrores. As filas gigantescas do RU e o sufoco das paradas de ônibus, ocasionando as cenas de romarias a pontos distantes na busca de um lugar, são as imagens mais chocantes, mas nem de longe as únicas, do verdadeiro tratamento de gado dispensado aos estudantes.
A negação de qualquer espaço para debate tomou tons dramáticos quando foi colocada a questão da criação de uma empresa para gerir os serviços prestados pelos hospitais universitários. Em que pese a delicadeza do tema e as implicações da decisão a ser tomada, em uma área cuja situação é de clara emergência, o reitor agiu como sempre, atropelando os trâmites, cerceando a discussão e concluindo o acordo na base de um ato administrativo da direção do HU, sem apreciação pelos colegiados superiores.
O mandonismo de velha cepa oligárquica apareceria ainda com força no “toma lá, dá cá” que passou a dominar o próprio encaminhamento de solicitações na esfera administrativa, pois “falar com o reitor” é o verdadeiro passo para conseguir qualquer coisa, tudo é tratado de forma muito pessoalizada, e também na vergonhosa imposição do desligamento do professor Ayala Gurgel, do Departamento de Filosofia, por dano à “imagem” da UFMA, em processo frágil, eivado de erros e derrubado em instância liminar. Para isto contou, é bom frisar, com a falta de autonomia e até de brios de um Conselho Universitário acovardado, novamente com exceção honrosa da representante da APRUMA, que foi voz solitária no repúdio àquele ato arbitrário.
Não obstante este quadro, onde apenas foram alinhavados fatos que são do conhecimento de todos, a ideia que sua máquina publicitária construiu é de uma gestão de “crescimento com inclusão e participação”. A imagem que muitos inadvertidamente encampam é a do agente modernizador, a gestão com “eficiência comprovada”, permanecendo em segundo plano a observação sobre a natureza desta modernização, suas pontes de contato e reprodução com as velhas práticas exclusivistas, numa palavra, os traços patrimoniais e oligárquicos que cumpre ultrapassar. Houve crescimento, mas a qualidade e a forma precisam ser seriamente discutidas; a inclusão foi tímida, exatamente pelo desencontro entre o prometido o funcionamento efetivo dos programas; e a participação foi quase inexistente, restringindo-se, quando muito, à mera encenação.
A UFMA encontra-se novamente diante de uma encruzilhada que guarda similitudes com a disputa do ano de 2007, justamente quando Natalino Salgado tornou-se reitor. Na ocasião, abriu-se um vazio decorrente da desistência do então reitor e candidato considerado natural à disputa pela reeleição, Fernando Ramos, surgindo a candidatura do professor Francisco Gonçalves, então apenas coordenador do curso de Comunicação Social. Nome conhecido, profissional respeitado e pessoa aberta ao diálogo, vindo da experiência dos movimentos sociais, como num feixe de luz, a sua candidatura ganhou força e foi se contagiando em alegria, configurando uma possibilidade bem diferente do que havíamos visto até ali na história da universidade, pois a escolha de reitores sempre foi resolvida entre eles, os da administração superior, de tal modo que fazer parte deste circuito era condição essencial a qualquer aspirante. Isto e o apoio do reitor em fim de mandato. No fundo, apesar das diferenças, os reitores foram quase saindo um de dentro do outro, configurando um verdadeiro Monstro do Mesmo, pois os eventuais atritos nunca foram suficientes para quebrar esse fosso que se colocou entre a administração e a comunidade universitária.
Infelizmente, naquela ocasião a APRUMA e o DCE, por um erro grande de percepção das possibilidades abertas, preferiram optar por não participar do pleito e pregaram o boicote à consulta, alegando a ilegitimidade decorrente do peso do voto dos professores equivaler a 70% do total, restando os outros 30% divididos igualmente entre os segmentos de alunos e funcionários. Uma das bandeiras centrais da candidatura de Chico Gonçalves, no entanto, era implantar a paridade, o peso igual para os três segmentos, o que já significaria grande avanço mesmo pra quem defendia o voto universal, como era o caso das diretorias das duas instituições.
Ao cabo de oito anos, limitado por seu próprio centralismo personalista, Natalino Salgado teve dificuldade em deixar fluir o processo sucessório, terminando por indicar como candidata, tal como um czar da instituição, a Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Nair Portela. Sem nenhuma autonomia frente ao atual reitor, o horizonte que ela oferece a esta universidade é sombrio, a de um reitorado fantoche, justo no momento em que todas as IFEs sofrerão sérias restrições orçamentárias. Como herança a ser encarada temos a penca de prédios e obras não acabadas/mal acabadas, a expansão galopante sem correspondente infraestrutura e a necessidade inadiável de repensar seu próprio lugar na sociedade, principalmente a insuficiência de suas relações com a realidade maranhense. Mais do que nunca o pensar conjunto e a ação transparente serão os antídotos contra as decisões arbitrárias.
A UFMA, apesar de toda insuficiência, se transformou no correr das décadas e possui trabalhos em diversas áreas que não podem ser ignorados. Fruto do esforço de vários, muitas vezes lutando contra amarras burocráticas até inacreditáveis, formaram-se grupos de pesquisa, cursos de pós-graduação, inciativas bem sucedidas de extensão, levadas quase a ferro e fogo por seus proponentes. Neste soar do cinquentenário, uma nova possibilidade de driblar o curso normal da história e iniciar um caminho diferente, de ativação de forças de participação, de maior autonomia, volta a se colocar e com uma novidade importante em relação às disputas de 2007 e 2011, quando as candidaturas aguerridas de Sirliane Paiva e Cláudia Durans expressaram a existência de pontos de resistência importantes a esse projeto autoritário que se pretendia hegemônico. Em 2015, a junção desses pontos esteve na base da formação do Movimento UFMA Democrática (MUDe), um movimento de participação transversal, criado contra a mesmice preservada quase intacta ao longo de décadas e sustentada na anemização conformista que brota do simples fato de tudo vir da reitoria.
A era dos Edgard Santos já passou há muito, algo que Natalino Salgado, em seu narcisismo heroico, e sem possuir a dimensão do personagem, não teve qualquer pendor para perceber. Neste momento da história da universidade, o verdadeiro salto qualitativo só virá como fruto da modificação da estrutura administrativa arcaica em que estamos todos mergulhados. Ativar os colegiados e abri-los, reformá-los com vistas à ligação mais estreita com a comunidade, fortalecer os departamentos e os centros, derrotar esta linhagem de mandarins da administração superior, aproximando os campi, instaurando a discussão ampla sobre os problemas e os rumos da universidade e não impondo receituários, como tem sido a práxis em todos estes anos, são eixos fundamentais cuja defesa encontram expressão nas candidaturas de Antônio Gonçalves a reitor e Marise Marçalina a vice-reitora.
Oriundos da ponta mesmo das atividades-fins, um médico do HU e uma doutora em educação voltada a projetos de alfabetização, tendo ambos a dimensão mais crua das dificuldades cotidianas e não do mundo da fantasia em que parecem viver os integrantes da administração superior, representam um caminho bastante distinto neste aspecto crucial de aproximar a administração da comunidade universitária e no ideal de “construir um planejamento participativo que estabeleça um fluxo de relações com a sociedade civil e os movimentos sociais”, tirando a universidade do isolamento olímpico em que ela sempre se manteve. Não será fácil, nem a transformação ocorrerá num passe de mágica, mas esta eleição poderá marcar um momento de maturidade, quando a comunidade universitária em sua maioria se recusa a continuar dominada por uma estreita camarilha administrativa, decide finalmente romper seus grilhões mais antigos e encaminhar a discussão de seus próprios rumos, livre de senhores e falsos heróis.
*Flávio Reis é professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA. Publicou Cenas marginais (2005, ed. do autor), Grupos políticos e estrutura oligárquica no Maranhão (2007, ed. do autor) e Guerrilhas (2012, Pitomba/ Vias de Fato).