POR FLÁVIO REIS
A primeira vez que ouvi falar em Pitomba como nome de uma editora foi mais ou menos há cinco anos. Era uma reunião entre amigos, inclusive livreiros, sobre a organização de uma editora e Bruno Azevêdo, que tinha ideia semelhante, foi contatado, aparecendo já com a sugestão do nome Pitomba, que causou estranheza geral. Achei até bom para os textos que ele fazia, bastante influenciados pela linguagem dos quadrinhos, mas ruim para os livros que tínhamos em mente publicar de imediato, sobre São Luís e o Maranhão. O projeto da editora “séria”, entretanto, gorou muito cedo. A obsessão de Bruno com a Pitomba, felizmente, não.
Conseguiu, então, um logotipo canalha para o selo, uma pitomba que é também uma bomba, expressando de forma bem inteligente a dupla face da coisa, e começou a publicar livros e outros materiais. Os livros sempre trazem seis tópicos colocados como manifesto, programa ou algo similar, ou talvez apenas uma grande tiração com isso tudo, afirmando que a palavra “não é palavra, antes de ser ouvida” e, se há de ser dito, “que seja dito com cacófatos e microfonias, pra que, assim, quem ouça também diga” (…) “porque a informação não se pertence e a posse de ter é a posse de dar e é essa posse que reivindicamos”. No resumo, “porque para além do caroço, que é quase tudo, existe a casca, que se quebra, e existe a polpa, que se quer: pitomba!” Sacou?
Pois é, muita gente sempre torceu o nariz pra esse “manifesto” da Pitomba, mas ele continuou lá. Nesse tempo ainda inicial, Celso Borges voltava de São Paulo, após vinte anos, enquanto Reuben da Cunha Rocha fazia o caminho inverso, não sem antes eles se cruzarem, resultando na invenção de uma revista sem periodicidade ou critério de classificação. Decidiram embarcar no nome e na tirada do logotipo e batizaram a nova cria com o mesmo nome da editora.
Nascia a Pitomba, uma revista fora do sério, pra provocar e avacalhar, na trilha da literatura, das artes, mas num clima underground, de liberdade e doideira, que aqui sempre é difícil. Nada muito sofisticado, apesar da elaborada e agressiva diagramação, nem de bairrismos, nordestinismos e outras baboseiras, tão comuns em publicações regionais, apesar de trazer em seu cerne um princípio corrosivo que se volta diretamente contra a antiga cultura ateniense e contra a exaltação publicitária da cultura popular.
Material cru, pra saborear com sangue: poesia variada (da boa e da ruim, quem sou eu, hein), traduções, frases-bomba, desenhos malucos, fotografias, quadrinhos, novelas, fotonovelas, pornografia variada, sátira política, crítica cultural e o que mais pintar. Em quase três anos e apenas cinco números lançados, acredito que este seja um caso muito estranho em que nem os editores nem os (poucos) leitores parecem saber ao certo do que trata mesmo a revista e até o que esperar dela. Justamente aí, no entanto, reside o melhor da coisa. Existe uma diferença entre a editora e a revista, a primeira saiu da cabeça de Bruno e é dirigida por ele, a segunda, não. Mas uma é a cara da outra na disposição anárquica, no traço de caravana.
Pitomba não chegou a se configurar como “movimento” ou “coletivo”, é bem menos complicada, nem tem objetivo claro ou programa é, antes, fruto de uma f(r)icção de individualismos, que se estimulam e energizam no coletivo. Talvez se resuma mesmo apenas a um “estado de espírito”, uma caravana aberta aos acasos, onde ressoa a necessidade urgente de acelerar a destruição de determinadas ideias canonizadas sobre cultura e literatura, num lugar onde estes termos tornaram-se sinônimos de tombamento, de exaltação vazia. Para isto, apostaram decisivamente na estratégia do atrito. Como disse Celso em entrevista: “eu acho que tem que manter o atrito, é uma característica da revista. Isso a gente não tem que abrir mão, nem é essa coisa do atrito, é a coisa da irritação mesmo”.
Na cultura da afirmação e do elogio em que vivemos, mergulhados na sedação da mediocridade, a estranheza e o incômodo que a revista pode causar se traduziu apenas no silêncio, no desconhecimento puro e simples. Nada de espantar, Narciso só repara nos seus próprios movimentos e na situação atual da cidade, quatrocentona em estado terminal, não consegue esboçar mais nenhuma reação senão aos clichês do próprio espetáculo.
Entretanto, tal reação (ou ausência de) nunca mudou nada na determinação dos editores, na lógica radical explicitada por Reuben: “nós não temos apoio, portanto faremos”. É um caso de combinação, de articulação entre o individual e o coletivo, de pulsações que se encontram na mesma pegada. Sem a diagramação, a anarquia e a putaria de Bruno, a revista perderia sua linguagem mais atual e desconcertante; sem Celso, a cara da poesia, sua capacidade de misturar códigos e, principalmente, a disposição de juntar, a revista sequer existiria; e sem Reuben, perderia na crítica cultural, feita diretamente ou através de traduções que são também finas transposições de situações, reflexões, e na experimentação, ou seja, perderia em densidade e aventura, risco.
No geral, um não gosta de poesia, enquanto outro não vive sem ela, nem se sente à vontade com os quadrinhos e outro transita mais facilmente entre estas linguagens; um gosta de brega, outro é roqueiro de raiz, mas aberto, ouve de tudo, enquanto outro anda garimpando todo tipo de experimentalismo e doidice sonora. No fundo, eles terminam se encontrando na eletricidade do rock e na firme disposição em embaralhar e ampliar o escopo do que seja literatura, sem nenhuma preocupação com convenções, prêmios, público, nada.
Pra fazer a revista, não é fácil, é uma briga. Segundo o depoimento dado em entrevista preciosa ao Vias de Fato, feita por Zema Ribeiro e Igor de Sousa, Celso precisa tocaiar Bruno e “hostilizá-lo” para a coisa começar a sair do papel e das ideias para o computador. Recolher o material nem é tanto o problema quanto traduzir isso tudo em forma gráfica, em diagramação. O processo costuma ser mais fácil quando está presente o ponto de união entre os extremos, Reuben. Mas ele mora longe, tornando o lance mais complicado. Foi o que vimos neste segundo semestre. Celso, envolvido com várias coisas, não obteve êxito na tocaia e Bruno conseguiu  escapar, colocando todos os esforços no Isabel Comics! ano II, no Baratão 66 e outras iniciativas da editora Pitomba. Era muito difícil mesmo a missão de Celso, mas agora ele terá a ajuda de Reuben para tocaiar e prender Bruno, o passo decisivo para a elaboração da Pitomba.
escapar, colocando todos os esforços no Isabel Comics! ano II, no Baratão 66 e outras iniciativas da editora Pitomba. Era muito difícil mesmo a missão de Celso, mas agora ele terá a ajuda de Reuben para tocaiar e prender Bruno, o passo decisivo para a elaboração da Pitomba.
Não tem a revista no final do ano (e que ano intenso!), mas tem uma festa de arromba da editora nesta quarta 11/12, no QG de quase todas as experiências de doideira que tem rolado nos últimos anos por aqui, o Chico Discos. É a Pitomba espocando pra valer, lançando de uma tacada mais quatro publicações de seu já variado catálogo, que até agora comporta quadrinhos, “novela trezoitão”, poesia, ensaios, “romance festifud”, e experiências para além de qualquer classificação.
 É o caso do livro de Reuben, As Aventuras de Cavalodada em + Realidades Q Canais de TV, o mais louco dos novos lançamentos. Manipulando principalmente o aforismo e outras formas fragmentárias, como o anúncio, a citação, a colagem, no ritmo da escrita sintética das redes, saturada de visualização e sonorização, o livro destila veneno pra todo lado, numa percepção ácida e virulenta da cultura do espetáculo e da brutalização do cotidiano. Respira e transpira todo o clima de insurreição cultural que já se insinua claramente em certos círculos da moçada mais criativa das cidades.
É o caso do livro de Reuben, As Aventuras de Cavalodada em + Realidades Q Canais de TV, o mais louco dos novos lançamentos. Manipulando principalmente o aforismo e outras formas fragmentárias, como o anúncio, a citação, a colagem, no ritmo da escrita sintética das redes, saturada de visualização e sonorização, o livro destila veneno pra todo lado, numa percepção ácida e virulenta da cultura do espetáculo e da brutalização do cotidiano. Respira e transpira todo o clima de insurreição cultural que já se insinua claramente em certos círculos da moçada mais criativa das cidades.
Em movimentos rápidos, toca em temas como circulação e apropriação dos espaços urbanos, através de figuras tão inesperadas como o mijador de rua e o skatista; a crise dos sistemas de signos, através do pixador (assim mesmo), “cavalo das ruas”, o anunciador do “estado da escrita na realidade onde vivemos”; ou as relações entre diamba e bruxaria, vale dizer, entre a maconha e experimento de sensações, a questão crucial da alteração da percepção num mundo de sobrecarga visual e atrofia de sensibilidades.
As Aventuras de Cavalodada estão carregadas da experiência urbana contemporânea, da redefinição da relação com o espaço, buscando discernir a “camuflagem superposta da comunicação das ruas”. Tenta mesmo fundir novamente cidade e literatura, na esteira dos modernistas mais radicais, e neste sentido é texto complexo, um grito contra o “pensamento pobre” e o “pensamento conveniente”. Pode até ser lido como pura curtição, mas, no fundo, é de leitura densa, na leveza enganosa da colagem de curiosidades ou reflexões ditas de maneira extemporânea.
 Depois de alguns trabalhos publicados, entre eles o incrível O Monstro Souza, seguramente um dos retratos mais cruéis e cômicos já feitos da cidade de São Luís, realismo fantástico do século XXI, Bruno traz à luz o Baratão 66 (ou 69, depende da hora), uma novela em quadrinhos, misturando erotismo, sátira e crítica de costumes, ao seu estilo. Agora, no entanto, aparece mais afiado, com o controle maior do ritmo e do entrelaçamento das partes da narrativa, feita em camadas que se revelam aos poucos, como um saco infindável de surpresas.
Depois de alguns trabalhos publicados, entre eles o incrível O Monstro Souza, seguramente um dos retratos mais cruéis e cômicos já feitos da cidade de São Luís, realismo fantástico do século XXI, Bruno traz à luz o Baratão 66 (ou 69, depende da hora), uma novela em quadrinhos, misturando erotismo, sátira e crítica de costumes, ao seu estilo. Agora, no entanto, aparece mais afiado, com o controle maior do ritmo e do entrelaçamento das partes da narrativa, feita em camadas que se revelam aos poucos, como um saco infindável de surpresas.
Este é um traço em que ele vem caprichando, principalmente com a experiência de A Intrusa, novela erótica em 12 capítulos, publicada originalmente como folhetim no jornal alternativo mensal Vias de Fato e também já disponível em forma de livro pela Pitomba. O enredo, desta vez, se desenrola numa casa que, durante o dia, funciona para depilação, cuja especialidade são os desenhos nos pelos pubianos, o Baratão 66; e, durante a noite, transforma-se num puteiro, o Baratão 69, onde se aceita tudo, menos “fazer cu fiado”.
Bruno fala da sacanagem e dos puteiros como traço identitário do maranhense e satiriza um futuro reconhecimento como patrimônio da cultura, através da instalação da Casa de Cultura Baratão 66. A trama é cheia de surpresas, envolvendo Francinete, a dona do bordel e seus ataques com as lembranças do marido, suas filhas e a ambição de deixarem a vida de puta, o porteiro apaixonado pelo padre, mas com obrigação de comer a velha matrona, o representante da Piu-Piu, franquia de desenho de boceta e o governador, sonho de dez entre dez putas do Baratão que almejam algum golpe na dureza da vida.
A edição é cuidadosa e os desenhos de Luciano Irrthum são um ponto alto, onde afinal se materializa todo o tom de excesso da trama. O livro saiu com duas capas diferentes, à escolha do freguês e é repleto de detalhes gráficos. Tem ainda um posfácio escrito por quem entende do riscado. Enfim, uma beleza, presentão de natal, “quadrinhos para toda a família!”.
 O pacote traz também o livro de Celso Borges, O futuro tem o coração antigo, uma experiência com “poemas fotográficos” e imagens do centro antigo, em fotografias tiradas por alunos do Curso Técnico em Artes Visuais do IFMA, utilizando um dos métodos mais antigos, sem lentes, com câmeras feitas à mão, com latas ou caixas, um furo em um dos lados e um pedaço de filme no outro. É o método pin hole, criando imagens não muito nítidas e que podem sofrer deformações ou alterações variadas, dependendo do formato das caixas e do tempo de exposição do filme à luz.
O pacote traz também o livro de Celso Borges, O futuro tem o coração antigo, uma experiência com “poemas fotográficos” e imagens do centro antigo, em fotografias tiradas por alunos do Curso Técnico em Artes Visuais do IFMA, utilizando um dos métodos mais antigos, sem lentes, com câmeras feitas à mão, com latas ou caixas, um furo em um dos lados e um pedaço de filme no outro. É o método pin hole, criando imagens não muito nítidas e que podem sofrer deformações ou alterações variadas, dependendo do formato das caixas e do tempo de exposição do filme à luz.
O resultado é um encontro conflituoso do poeta consigo mesmo e com a cidade, numa superposição de suas metamorfoses, em que os tempos se embaralham e a poesia tornada palavra-imagem e palavra-som (o trabalho se completa com o vídeo, feito em colaboração com Beto Matuck) se volta sem melancolia ou saudosismo, mas não sem saudade, para uma cidade que, numa palavra, simplesmente morreu, não existe mais. A edição, como sempre nos trabalhos de Celso, é caprichada, o texto todo datilografado numa máquina Hermes, criando um detalhe estético forte associado à questão do tempo, papel de primeira, textura em preto e branco, formato retangular, capa dura. Um luxo.
 Tem ainda um romance que é a estreia de Jorgeana Braga na prosa, A Casa do Sentido Vermelho, ela que tem um livro de poesia publicado na Pitomba. Este ainda não li, vou adquirir no lançamento, mas já comecei a gostar pela capa, sem contar o que ouvi falar acerca da beleza de sua escrita. A conferir.
Tem ainda um romance que é a estreia de Jorgeana Braga na prosa, A Casa do Sentido Vermelho, ela que tem um livro de poesia publicado na Pitomba. Este ainda não li, vou adquirir no lançamento, mas já comecei a gostar pela capa, sem contar o que ouvi falar acerca da beleza de sua escrita. A conferir.
Enfim, com site na rede, um cartel de cerca de dez publicações (já com material fora de catálogo), uma caixa de madeira novinha pra venda ambulante e, principalmente, muita irreverência e disposição para chutar o pau da barraca, a Pitomba está em festa e justa celebração, literalmente “cuspindo os caroços”. Editora, revista, espaço de criação, base de lançamento… É Pitomba neles!


 escapar, colocando todos os esforços no
escapar, colocando todos os esforços no  É o caso do livro de Reuben, As Aventuras de Cavalodada em + Realidades Q Canais de TV, o mais louco dos novos lançamentos. Manipulando principalmente o aforismo e outras formas fragmentárias, como o anúncio, a citação, a colagem, no ritmo da escrita sintética das redes, saturada de visualização e sonorização, o livro destila veneno pra todo lado, numa percepção ácida e virulenta da cultura do espetáculo e da brutalização do cotidiano. Respira e transpira todo o clima de insurreição cultural que já se insinua claramente em certos círculos da moçada mais criativa das cidades.
É o caso do livro de Reuben, As Aventuras de Cavalodada em + Realidades Q Canais de TV, o mais louco dos novos lançamentos. Manipulando principalmente o aforismo e outras formas fragmentárias, como o anúncio, a citação, a colagem, no ritmo da escrita sintética das redes, saturada de visualização e sonorização, o livro destila veneno pra todo lado, numa percepção ácida e virulenta da cultura do espetáculo e da brutalização do cotidiano. Respira e transpira todo o clima de insurreição cultural que já se insinua claramente em certos círculos da moçada mais criativa das cidades. Depois de alguns trabalhos publicados, entre eles o incrível
Depois de alguns trabalhos publicados, entre eles o incrível  O pacote traz também o livro de Celso Borges,
O pacote traz também o livro de Celso Borges,  Tem ainda um romance que é a estreia de
Tem ainda um romance que é a estreia de 

























 Você é um dos editores da revista
Você é um dos editores da revista 
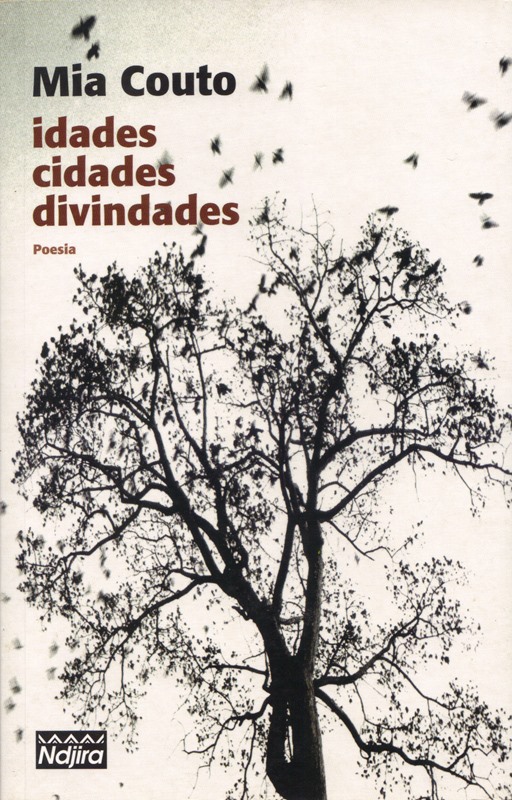
 A coleção de poemas que Paulo Leminski publicou em livros, inclusive póstumos, reunida em Toda Poesia [Companhia das Letras, 2013, 421 p.], bateu recordes: alcançou os 50 mil exemplares vendidos, soma nada desprezível para o mercado livreiro, e particularmente de poesia, no Brasil.
A coleção de poemas que Paulo Leminski publicou em livros, inclusive póstumos, reunida em Toda Poesia [Companhia das Letras, 2013, 421 p.], bateu recordes: alcançou os 50 mil exemplares vendidos, soma nada desprezível para o mercado livreiro, e particularmente de poesia, no Brasil.
