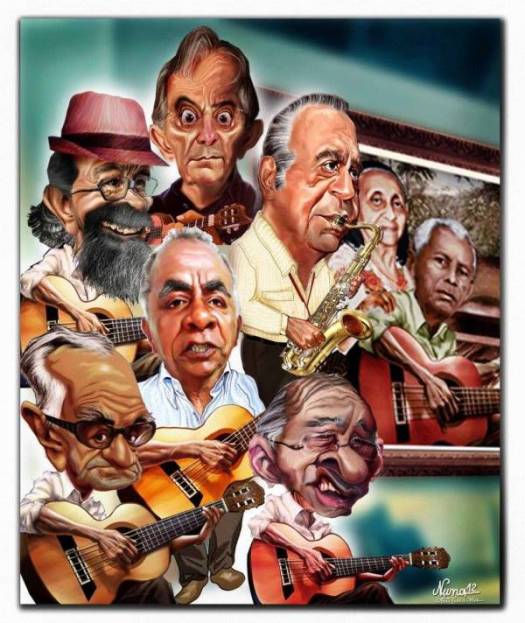[O Imparcial, 5 de outubro de 2014]
Filho de Carlos e Zelinda Lima, Danuzio Lima, flautista maranhense radicado em Miami, é o 41º. entrevistado da série Chorografia do Maranhão
TEXTO: RICARTE ALMEIDA SANTOS E ZEMA RIBEIRO
FOTOS: RIVANIO ALMEIDA SANTOS

Danuzio Lima é filho dos folcloristas Carlos de Lima e Zelinda Lima. Ainda cedo enveredou pelas artes, tendo passado, ainda criança, pelo teatro e pelo rádio, antes de dedicar-se à música. “Eu comecei tarde, só fui ter minha primeira flauta aos 29 anos”, revela, modesto.
Doutor em Desenvolvimento Urbano formado em Paris Carlos Danuzio de Castro e Lima nasceu em São Luís do Maranhão em 22 de maio de 1953. Está radicado nos Estados Unidos há 28 anos. Thiago Lima, filho do primeiro casamento, é formado em Cinema. Hoje Danuzio é casado com a gaúcha Ana Freire e integra o Clube do Choro de Miami, grupo que na terra do Tio Sam dedica-se ao mais brasileiro dos gêneros musicais.
O flautista concedeu entrevista à Chorografia do Maranhão, a 41ª. da série, no vasto terraço da casa de sua mãe, onde se hospedou na mais recente passagem pelo Maranhão. Para lá dirigiram-se os chororrepórteres, em sua companhia, após ele ter sido entrevistado ao vivo e tocado algumas peças no dominical Chorinhos e Chorões, apresentado por Ricarte Almeida Santos na Rádio Universidade FM (106,9MHz).
Na ocasião, na emissora, Danuzio estava acompanhado de parte do Regional Tira-Teima, com quem havia tocado na sexta-feira anterior: Francisco Solano [violonista sete cordas, Chorografia do Maranhão, O Imparcial, 26 de maio de 2013], Léo Capiba [cantor e percussionista, Chorografia do Maranhão, O Imparcial, 27 de abril de 2014] e Zé Carlos [percussionista, Chorografia do Maranhão, O Imparcial, 10 de novembro de 2013].

Você é filho de dois dos maiores folcloristas do Maranhão. Qual a influência deles nessa tua veia artística, nesse caminho musical? Eu diria que 99%, por que eu muito criança, ainda, fiz teatro com meu pai. Ele e minha mãe foram dos fundadores do Tema, o Teatro Experimental do Maranhão. Eu quando criança fiz peça de Gianfrancesco Guarnieri, Gimba. Eu era o Tico, filho do malandro do morro que queria ser ele, uma peça muito bonita. Fiz outras peças. Fiz, quando a televisão Difusora se instalou aqui, meu pai e minha mãe trabalhavam lá, naquela época, Parafuso, grande Parafuso!, sonoplasta. Eu fiz um seriado lá, era um programa para crianças. Fiz rádio, lia com Regina Telles, lia histórias no rádio. Tudo foi uma influência muito grande. Minha mãe sempre gostou muito de cultura popular, bumba meu boi, casa de mina, tambor de crioula, tudo isso sempre foi muito presente na minha vida, num tempo em que não era uma coisa muito bem vista. Inclusive amigos do meu pai no Banco do Brasil diziam, “rapaz, você anda com esse povo de teatro?” [risos], não era uma coisa muito boa.
Então antes de você se dedicar à música você teve uma passagem por outras linguagens artísticas. Sim, eu fui me dedicar à música, eu comecei a tocar com 29 anos. Foi a primeira vez que eu comprei uma flauta para mim. A admiração pela música, pela arte, pelo teatro, pelo cinema, literatura, é muito mais antiga. Eu tocar música veio muito mais tarde.
Como era o ambiente musical em sua casa? O que vocês ouviam? Você tinha vivência com grupos musicais? Não, eu não tinha vivência. Mas meu pai, eu me lembro dos LPs que tinha lá em casa, eu ouvia até furar. Eu lembro, por exemplo, é uma mostra do que eles ouviam. Meu pai gostava muito de música, ouvia muito bolero, esse tipo de coisa. Mas eu me lembro, por exemplo, minha primeira influência de música, de eu sentar e ouvir um LP: Chico Buarque. Eu ouvi tudo de Chico Buarque. Tinha um disco americano, chamava The Platters, cantavam Only you, acho que era o único disco estrangeiro que a gente tinha, talvez tivesse Edith Piaf, eu não lembro agora. Tinha um disco de Geraldo Vandré, eu achava muito bonito também, Caetano Veloso, ele cantava umas coisas que eu nunca mais ouvi: “é de manhã, é de madrugada, é de manhã”, eu nunca mais ouvi. Essas foram mais ou menos as minhas primeiras influências musicais.
Na tua casa não se ouvia choro, por exemplo? Não tinha discos de choro? Quando é que essa música começa a fazer parte de teu imaginário? [Pensativo] O choro… Na casa da minha vó tinha uma coleção que se perdeu, daqueles discos antigos, que vinham dentro de uns álbuns que se fechavam, tinha Ivon Cury, tinha milhares de coisas, Ângela Maria, e tinha também o choro. Tinha essas coisas mais conhecidas, Tico-tico [no fubá, de Zequinha de Abreu], Brasileirinho [de Waldir Azevedo], muita valsa, eu me lembro de Branca [de Zequinha de Abreu], como é o nome do outro? Uma porção de valsas. O choro começou mais por esse lado aí. Era na verdade minha introdução à música instrumental. Essa música instrumental brasileira eu ouvi antes de sinfonia, naquela época pra mim não existia. Música instrumental eu ouvi nesses discos grossos e pequenos da casa da minha vó.
Teatro, música, cultura popular. E rádio? Vocês ouviam rádio em casa? Eu fiz rádio! Eu fiz esse programa de rádio, contava histórias, eu, Regina Telles. Eu não lembro direito quais eram as histórias, mas eram diálogos que a gente lia.
Sua casa sempre foi muito frequentada por artistas, não é? Sempre foi. E também o pessoal que vinha de fora, para fazer cinema, por exemplo, A faca e o rio, passavam lá por casa, mamãe dizia onde eram os lugares mais interessantes para filmar, as pessoas que deviam falar. Queriam um pote de barro, “ah, é aqui”. Ela era meio contrarregra. Na verdade, meu irmão Álvaro acabou sendo contrarregra de um desses filmes, não lembro qual foi. A faca e o rio, ou Uirá, um índio a caminho de Deus. Eles [seus pais] apareceram em vários filmes desses, andando, assim como personagens.
Quem dessas figuras importantes te marcou? De contato eu vou falar da pessoa que toca meu coração. Pra mim é o meu poeta [Luiz Algusto] Cassas. Eu adoro tudo o que Cassas escreve. É de um humor, uma leveza, um retrato. Uma coisa que era sempre importante em meu pai, você não pode falar Carlos Lima sem falar em São Luís do Maranhão. Quando meu irmão morreu nós vivemos no Rio, fomos para Brasília, fechamos a casa. Quando voltamos, as lembranças todas voltaram. Ele nunca se sentiu bem, em casa, sem ser em São Luís do Maranhão. Tudo o que ele escreveu é São Luís do Maranhão, a música, a literatura, novela se passa em São Luís do Maranhão, a cidade. Cassas para mim é isso. Ele traz essa cidade que está longe de mim, não só fisicamente, mas também longe no tempo.
E a tua relação com teu pai, como era? Outro dia alguém me perguntou. Meu pai e minha mãe eram duas pessoas completamente diferentes. Minha mãe era uma pessoa que sempre estava um pouco na frente do tempo dela, usava calça comprida no tempo que não se usava, mulher que trabalhou o tempo inteiro. Nossa casa nunca foi aquele ambiente familiar, fechado. A nossa casa sempre foi a extensão da rua, sempre entrando e saindo gente. Até hoje é assim. Isso em função da minha mãe. Meu pai, que todo mundo acha que é um cara mais aberto, fala muito, contava história, é um cara muito mais fechado. Não tinha muito contato físico com a gente, vinha de uma família muito rígida. Até quando ele entrou na Academia Maranhense de Letras, foi uma coisa que me marcou profundamente, quando ele disse “quisera minha mãe estar aqui”. Ele estava acertando uma conta antiga: cheguei. A pressão era muito grande na família dele. Ele era muito mais tímido, muito medroso, nesse sentido. Zelinda sempre foi de meter os peitos e vamos lá. Ele era mais retraído, mais tímido. Gostava de gente, gente alegre, mas pouca gente. Ela sempre teve as ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos visitar isso. Na verdade ele escreveu sobre cultura popular por que ela, quando foi para o interior, para Codó, quando foi transferido pelo Banco do Brasil, ela se interessou, não estava fazendo nada, era a esposa de um bancário, se interessou para ver o que o pessoal fazia, em termos de artesanato. Aí ele começou a acompanhá-la e a gravar as coisas, ele escrevia bem, ela empurrou ele. Era uma coisa intuitiva, desde criança, filha de espanhol, neta de índia, tinha que sair para a rua, ver o que era.
Você falou que só foi se dedicar à música com quase 30 anos. Você tem outra profissão? Eu sou engenheiro civil, formado aqui em São Luís do Maranhão. Daqui eu saí, fui para a França, trabalhei nos Correios, fui diretor de engenharia dos Correios e Telégrafos daqui do Maranhão por pouco tempo. Aí ganhei uma bolsa do Rotary Internacional, fui para a França. Era pra ficar um ano, fiquei mais, voltei, pedi uma bolsa para o CNPq, fui para a França, fiz um curso de mestrado e doutorado em Planejamento Urbano, lá em Paris. Já no último ano eu entendi que um doutorado não era uma coisa que assim, entendeu? Eu não ia ser professor, pelo menos não professor de urbanismo, engenharia, então eu andava, Paris eu ia sempre num café que tinha lá e tinha um argentino que tocava bossa nova. Era um duo, violão e flauta. Eu achava muito bonito. Depois de um certo tempo, eu ia toda semana vê-lo tocar, ficou amigo, um dia eu falei pra ele: “eu gostaria de tocar, é bonito flauta”. Ele falou: “e por que não aprende?”. E eu disse que eu achava que estava muito velho para aprender a tocar. Aí ele me disse: “depende. Você quer ser o quê? Concertista? Se for, realmente está velho”. “Eu quero chegar em casa, ficar sozinho, tocar um pouquinho”. Aí ele me ajudou a comprar uma flauta, que foi o que me salvou dessa depressão pós-doutoral [risos]. Herdei um pouco de meu pai, isso, essa coisa muito inquisitiva, de querer saber mais, aprender mais, não bastou, até hoje estou aí caçando alguma coisa na música. Não me considero músico. Eu me considero muito mais um amante e incentivador do choro. Da música brasileira em geral, mas principalmente do choro. Eu tenho um prazer muito grande em ouvir as pessoas que tocam. Sou mesmo um entusiasta da música. Toco por que, sei lá, sou teimoso, tento fazer uma coisa que talvez não devesse fazer.
A partir de quando o choro passou a ganhar essa tua preocupação e predileção? Quando eu voltei de Paris, voltei para o Rio de Janeiro, fiquei no Rio de Janeiro, trabalhei no Patrimônio Histórico durante dois anos. Eu fui num encontro que depois eu fui saber que foi um encontro histórico. Teve uma oficina de choro no Rio de Janeiro, na Unirio.
Nos anos 1980 ou 90? Entre 82 e 84, eu diria. Teve um grande encontro, workshops, distribuíram umas partituras. Fiquei treinando em casa, nunca havia tido a oportunidade de tocar choro com ninguém. Depois eu fui saber que essa reunião foi o que deu o início, era um experimento para ver qual o interesse no choro. Depois, dali saiu a ideia de formar a Escola Portátil. Era o pessoal que estava lá, Luciana [Rabello, cavaquinista]. Eu não conhecia ninguém, não conhecia Luciana, não sei se Raphael [Rabello, violonista sete cordas, irmão de Luciana] estava lá, depois eu li isso em algum lugar e lembrei: “eu estive nessa reunião” [risos]. O Tira-Teima é muito importante para mim. Quando eu vim à São Luís eu conheci o Paulo [Trabulsi, cavaquinista, Chorografia do Maranhão, O Imparcial, 22 de dezembro de 2013], fiquei encantado com o cavaquinho. Convidei-o a vir aqui em casa, ele veio, depois veio com Solano, com o pessoal do Tira-Teima. Eu tocava um pouquinho de bossa nova, eles tocavam choro. A partir daí ele começou a me incentivar. Eu fui para os Estados Unidos, morei em Chicago, trabalhei na prefeitura de Chicago durante oito anos, sempre ouvindo choro, ouvindo música, tentando tirar alguma coisinha. Quando eu mudei para Miami, existia um grupo lá chamado Aquarela, e o flautista vinha embora para o Brasil, tinha terminado o curso de flauta dele na Universidade de Miami. O pessoal do choro me convidou para tocar, eu nunca tinha tocado, fui tirando de ouvido, toda semana tinha uma roda, eu ia, fui tirando o repertório, fui tirando as partituras, aí foi realmente que eu comecei a tocar mais, a me interessar mais, pesquisar, ler tudo sobre choro, entender que é um movimento muito maior, que é um movimento de afirmação nacional, de transformação da música europeia para a música brasileira, até se transformar na voz nacional. Da mesma maneira que foi o movimento nos Estados Unidos com o ragtime, em Cuba com o danzón, o mesmo processo, o processo de afirmação nacional.
Esse processo todo de aprendizado foi de forma autodidata? Ou teve alguém que desempenhou um papel importante? Não, foi, eu nunca tomei aula, nunca estudei assim, com uma pessoa. Agora tem até um cara que toca na sinfônica em Miami, eu estou tendo umas aulas com ele, tocando uns duetos. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu tive aula com David Ganc [flautista], ele tem um duo com Mário Sève [saxofonista e clarinetista]. Sabe como é: eu trabalho, esposa, filhos nascendo.
A flauta entrou como um hobby, um escape para o que você chamou de depressão pós-doutorado. Ela continua cumprindo esse papel, já que você não teve uma atuação, digamos, profissional, na música. Você nunca viveu de música? Não é bem um escape, era um amor muito grande pela música. Eu estava programado para fazer um doutorado e seguir essa carreira, tive um pouco uma desilusão. Passou a ser importante eu vivenciar [a música], não só ouvir, mas vivenciar isso. Hoje em dia a minha frustração é exatamente essa, até agora eu não pude me dedicar a isso, é uma frustração muito grande. Eu acabo de me aposentar e agora quando eu voltar eu espero me dedicar um pouquinho mais.
Agora aposentado há a perspectiva de voltar para o Brasil? Há a perspectiva de estudar música. Voltar para o Brasil, não sei. A minha esposa está trabalhando ainda e eu adoro o Brasil, mas eu acho o momento muito complicado. Não só politicamente, mas tudo me choca um pouco. Não é aquela de “voltei americanizado”, não. Me choca um pouco o desrespeito pelas pessoas, isso é uma coisa que realmente me deixa muito triste. Acho que piorou bastante. Eu lembro no tempo de meu pai, meu tempo de criança, as praças floridas, sem lixo no chão, sem balbúrdia. Não é só no Brasil, é um negócio mundial, a falta de respeito, a falta de consideração. Achei isso numa cidade aqui no Brasil: em Gramado, as pessoas dão bom dia, param para as outras atravessarem na rua. Eu se voltasse para o Brasil teria que arrumar um lugar onde eu não me contrarie muito.
No Brasil os cachês em geral são muito pequenos. Como é isso nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos também. Em Nova Iorque, que a concorrência é muito grande, tem gente que toca de graça, se toca por pouco. Em bares, boêmia, esse tipo de coisa. Falando de músico sem um nome, e tal. Em festas particulares o cachê é bem maior. O que é positivo nos Estados Unidos é que tudo, não só na música, é uma escada, você vai subindo, vai subindo, não tem vão. O vão depende de você, se você desliza. Você vai montando os degraus, criando seu nome, você chega lá. O Paulo Moura, que eu encontrei no Rio de Janeiro, me disse que a diferença daqui pros Estados Unidos é que lá o cara passa e diz, “olha, esse cara aí já matou um leão; aqui no Brasil tem que matar um leão todo dia”, quer dizer, amanhã não interessa se você é Paulo Moura, se você já tocou com quem, é uma coisa meio chata.
Além de instrumentista você desenvolve outras habilidades na música? Compõe, arranja? Não, eu devo ter uma musiquinha, mas não, não tenho capacidade para isso.
Você gravou um disco. Fale um pouco dele. Ave rara, tem uma foto da pomba do divino na capa. Esse cd não era uma coisa para vender, nem nada. Eu tinha vontade de fazer, nós fizemos em um dia, um violão, Claudio Spielvan, que é um músico profissional maravilhoso, que era o dono do estúdio, eu e o Felipe, que faz a percussão. Nós gravamos, eu tinha muita vontade de gravar duas músicas de meu pai, gravei Ave rara de Edu Lobo, Carolina de Chico Buarque, gravei Doce de coco [de Jacob do Bandolim] tipo bossa nova, não em choro por que não tinha regional, e tinha um choro também do Evandro [do Bandolim], Elegante, que nós gravamos. Era uma coisa para dar para os amigos, onde eu tocasse eu pudesse dar para as pessoas para tocar em outros lugares. É uma coisa muito cara, hoje em dia cd é muito difícil de fazer. Tá todo mundo fazendo uma música e botando na internet, ninguém está mais fazendo cd inteiro. Eu ainda compro. Eu não vou comprar uma faixa do Zé da Velha, quero o cd inteiro, quero ver a capa [risos].
De que grupos musicais você participou e participa hoje? Em Chicago eu participei de coisas de jazz, me chamavam para tocar, tinha duo, tinha um grupo que o nome era Rio Thing. Era um trocadilho com real, que é real. Tinha muita gente tocando bossa nova como rumba [risos] e eu botei esse nome bem pretensioso. Fiz muitos duetos com violão. Praticamente isso. Depois esse grupo. Em Miami tinha um triozinho que tocava bossa nova, botava uns choros no meio. Depois comecei a tocar choro, fiquei no Aquarela. Eu tenho viajado, não tenho tocado muito. O que me fascina não é tocar em público, o que me fascina é a roda de choro. Isso para mim é o meu objetivo. É um pouco o espírito do Six [o advogado e cavaquinista Francisco de Assis Carvalho da Silva], que nunca tocou em público [risos], de sentar na roda, tocar uma música, ouvir o outro tocando, esse é meu fascínio. O começo são os saraus na casa dos ricos, mas essa roda é a escola do choro, onde você aprende, erra, vê quem tá tocando o quê.
O que significa essa música, o choro? Significa tudo. Em primeiro lugar, só falando da música, eu acho uma música sem defeito. Minha opinião pessoal, e depois, de novo, quem sou eu para falar sobre música? Jazz, gosto muito, vi e ouvi todo mundo, de Miles Davis… depois todo mundo querendo improvisar, eu perdi um pouco o interesse. A música clássica eu acho que você tem que se dedicar mais ainda para entender, tem a história da coisa, para você realmente usufruir, é uma coisa mais difícil, mais complicada, não que o choro não seja. Eu acho o choro uma música perfeita, existem vários gêneros dentro do choro, pegadas diferentes, um toca de uma maneira, outro de outra, a formação, os instrumentos, a harmonia, é uma música perfeita. Fora isso, a importância da música. É nossa cultura, é quem eu sou. Você não pode negar isso. Às vezes as pessoas acham que eu sou meio radical por que eu não ouço outras coisas. Eu ouço, mas eu não tenho tempo para ouvir tudo [risos].
Você acha que o choro tem sido mais valorizado nos Estados Unidos de uns tempos para cá? Eu não sei. Entre os brasileiros que moram lá e os americanos, não há a menor dúvida que os americanos sentam, ouvem, vêm depois e perguntam: “que música é essa?”. Os brasileiros que moram lá, a maioria não está muito interessada. O choro nos Estados Unidos, do tempo que eu estou lá, não há a menor dúvida. Esse ano passaram por lá 20, 30 músicos brasileiros, passou o Choro das Três, Alessandro Penezzi [violonista], Teco Cardoso [flautista e saxofonista], Hamilton de Holanda [bandolinista], Alexandre Ribeiro [clarinetista], Pablo Fagundes [gaitista], Dudu Maia [bandolinista], Duo Brasileiro, com Douglas Lora [violonista], Rogério Caetano [violonista sete cordas]. [O choro] está ganhando um espaço muito grande, de costa a costa, concerto de choro, todo dia você vê, tem um. Vocês me perguntaram nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Existe o Clube do Choro de Londres, Toulouse, Bordeaux, Paris, Amsterdã. No Japão, todo ano, o Época de Ouro vai, tem um grande festival de choro em Osaka. Eu participei de um festival de choro da Escola Portátil em São Paulo, São Pedro da Aldeia, tinha gente de todo mundo.
Você se considera chorão? Não. Absolutamente. Não. Eu não me considero nem músico de choro. Eu me considero um amante de choro. Vou dar um exemplo, dá para entender melhor o que eu quero dizer. Quando eu estive em São Paulo eu sentei do lado do Proveta [Nailor Proveta Azevedo, clarinetista e saxofonista], onde ele ia eu ia atrás, às vezes a mesa já estava ocupada. Num dia eu cheguei cedo, fiquei com meu prato pra me servir o almoço, onde ele sentasse eu ia atrás, sem ele saber. Eu fui. Sentei, ri, “oi, tudo bom?”, “tudo bom”. Aí eu perguntei, “queria fazer uma pergunta, posso?”, “pode, tudo bem”. E eu: “mestre Proveta, e esse negócio de improvisação no choro, como é que é? Eu tocava um pouquinho de bossa nova e conseguia ludibriar o público, as notas saíam bonitinhas, parecia um negócio arrumadinho”, eu já tinha lido acordes, escalas, harmonias. Eu pensava que ele ia me dar um método. Ele olhou pra mim e disse “quantos choros você sabe decorados?”. “Olha, agora eu tou quase chegando em 40”. Aí ele disse: “no dia que tu souber 250 tu vai improvisar”. Chorão é esse cara. Chorão é Serra [de Almeida, flautista, Chorografia do Maranhão, O Imparcial, 3 de março de 2013], que você canta ele toca 300 mil choros, Proveta, esse pessoal é chorão.



DSCN3558_web.jpg)
DSCN3677_web.jpg)