[Vias de Fato, agosto/2013]
Marcos Magah prepara O homem que virou circo, sucessor de Z de vingança, a bem sucedida estreia, discos de uma trilogia sobre mágoa, solidão e morte. Autobiógrafo musical, o punk lírico conversou com o Vias de Fato, vindo diretamente de uma sessão de gravação.
TEXTO E ENTREVISTA: IGOR DE SOUSA E ZEMA RIBEIRO
FOTOS: ZEMA RIBEIRO
Los Perros Borrachos já haviam pedido a conta e estavam prestes a ir embora, quando o cantor e compositor Marcos Magah, mais de uma hora de atraso, adentrou o Cafofo da Tia Dica, aconchegante boteco por detrás da Livraria Poeme-se, na Praia Grande. Chegou desculpando-se: estava no Paranã, em uma sessão de gravação de seu novo disco, O homem que virou circo. “Todo mundo só fala desse negócio de Praia Grande. Ninguém cita o Paranã. O Paranã é um bairro importante, cara”, protestou. A conta foi reaberta.
Magah quer armar o circo, digo, lançar o disco, até o fim do ano. Trata-se do aguardado sucessor da estreia Z de vingança, que chegou ao mercado no fim de 2012 e rapidamente esgotou a tiragem inicial, de 700 cópias. Uma nova fornada foi providenciada e tem saído bem, nas melhores casas do ramo e nas não poucas apresentações que o músico tem feito em palcos diversos na capital maranhense [nota do blogue: a mais recente, domingo passado, 18, no Sebo no Chão, no Cohatrac].
O processo só foi possível graças a um produtor de Manaus, que se deslocou até São Luís com todo o equipamento de gravação – as sessões duraram oito dias, na casa do músico –, e ao escritor Bruno Azevêdo, que, maravilhado com o som punk rock bregadélico do artista, resolveu assinar o projeto gráfico e bancar a prensagem do disco, lançado por seu selo Pitomba.
“Primeiro disco, até onde eu saiba, a não recalcar o elemento do brega local como parte da música que ajuda a definir o lugar, que não faz brega involuntário. Magah raciocina através do brega, saca de rock e escreve pra caralho! O resultado é um disco poderoso, tristíssimo e de peito aberto”, classificou Bruno Azevêdo ao justificar seu voto em Z de Vingança, o único que Magah levaria na lista dos 12 discos mais lembrados da música do Maranhão, publicada no Vias de Fato de abril/maio.
Aos 42 anos, ludovicense, o autor de Viagem ao centro da queda é um “homem lúcido e perigoso” “fazendo rocks duros e pensando em Dolores Duran”, para tentarmos explicar o homem através de sua própria obra. Autobiográfico, Magah é punk e lírico. Integrou a banda Amnésia, que ajudou a consolidar uma cena punk em São Luís, na segunda metade da década de 1980. Não nega influências que vão dos Rolling Stones a Pinduca, passando por Cólera, Ratos de Porão, Richard Hell e Voidoids. E é capaz de fazer música sobre os olhos de uma camelô que “vende bugigangas no centro da cidade”.
Vias de Fato – Como está o processo de gravação do disco novo. E você pretende lançá-lo quando?
Marcos Magah – Rapaz, eu queria lançar no final do ano, está indo bem devagarzinho, com cuidado. Eu acho que essas são as melhores músicas que eu já fiz, então eu estou sendo cuidadoso. O Z eu gravei dentro de oito dias. A gente trabalhava de oito horas da manhã até às três da madrugada, saca? A gente comia em cima dos equipamentos. Era um negócio assim porque o produtor só tinha 10 dias para passar aqui. Ele veio de Manaus. O jeito que eu gosto de trabalhar é assim. Esse jeito que eu estou trabalhando agora eu não gosto. É tudo muito moroso. Eu não tenho esse pique da morosidade, eu sou um cara agoniado demais [risos].
O que você considera mais relevante para a produção do teu som? O que é que você ouve e que faz a tua cabeça? Rapaz, eu mesmo na época do punk, sempre escutei esse negócio da música brega. Odair José, por exemplo, hoje é muito badalado, mas naquela época gostar de Odair José era quase uma ofensa. Precisa entender também o que era o movimento punk naquela época, para as pessoas que não viveram aquela época, porque o movimento mudou tanto desses vinte anos pra cá, que eu falo algumas coisas e ninguém entende. Esses dias eu estava comentando com um cara que em 1985, 86 eu tinha 13 anos e você pegava um ônibus com aquele pessoal, aquela coisa punk e as pessoas… o ônibus ia lotado e as pessoas ficavam em pé, mas o banco do teu lado ninguém sentava. É uma coisa assim, parecia que tinha uma baba em cima de ti, sabe? Era um negócio desgranhento, não tinha MTV, essas revistas sobre rock, não tinha nada disso. Então, a Amnésia [banda em que Magah tocou e ajudou a consolidar a cena punk ludovicense], pra tu entender, surgiu num terreno limpinho, não existia banda de hardcore, por exemplo. As influências que a gente tinha era Dead Kennedys, Exploited, Cólera, Ratos de Porão. A gente passava o dia ouvindo música, era uma loucura, uma paixão maluca, era uma doença.
A gente quem? Eu, Carlos Pança, Carlos Amaral, que hoje mora em Salvador, que era o baterista do Amnésia, era uma pequena turma. E o Cohatrac tinha uma pequena turma do punk. Essas influências, por exemplo, eu vejo até hoje no meu som. Na forma do Redson, do Cólera, de tocar guitarra. É uma coisa que eu trago até hoje comigo. Inclusive coisas de palco, aquela coisa “eu vou morrer hoje aqui, cara!” [risos]. Mas sem aquela coisa dramática, tu tá entendendo?
Você tocando guitarra lembra muito o Keith Richards [guitarrista dos Rolling Stones]. Ah, tem muito de Stones, sempre teve. Tem uma coisa do Stones que não é uma coisa deliberada, “ah, eu vou imitar”. Mas de tanto ver, de tanto escutar, é uma coisa que peguei do Keith Richards por osmose de tanto ouvir. Foi essa coisa do jeito de corpo, sabe? Aquele negócio que ele bate a guitarra e meio que solta, como quem diz “eu não tenho nada a ver com esse crime” [risos], “não fui eu que atirei nesse cara” [risos]. Essa coisa assim, meio interpretativa, cara, eu trouxe. Tem um negócio maluco que no meio do punk eu sempre fui um cara meio esquizóide. Nunca fui um cara muito bem aceito. Porque, por exemplo, naquela época eu adorava discos de Pinduca [cantor paraense, maior expressão do carimbó], eu tinha, era meio maluco. Então, ontem eu tava conversando com um cara e ficava “pô, eu preciso voltar a escutar Pinduca”, tem um clássico dele, “vou tomar banho de cheiro, pra ficar cheirosinho pra Iaiá” [cantarolando]. Aí tinha aquela guitarra [imita o som da guitarra]. Até hoje tem esse negócio dessas palhetadas. Eu tenho uma música chamada Levada do despejo que se tu olhar a guitarra é Pinduca. Agora o jeito é tosco, é punk mesmo [risos].
A Amnésia não deixou registro? Foi até que ano? A Amnésia lançou demos que ficaram assim… até as pessoas esquecerem. A Amnésia foi uma banda muito popular, cara. Não só dentro de São Luís, mas no nordeste inteiro. Brasília, por exemplo, a gente vendia demo adoidado. Durou de 87 a 2002. Durante esse tempo a gente tinha uma popularidade enorme, de ir para outra cidade e parecer que [os fãs] iam virar o carro. Quando a gente saía da cidade jogavam camisas pela janela do ônibus. E a galera correndo atrás e continuavam a jogar camisa. Aqui em São Luís se for procurar pelas pessoas que viram e acompanharam esse processo, o público tinha uma adoração absurda, a tal ponto que as bandas de abertura tinham um público de 600 pessoas. Se eu tivesse o público da Amnésia… Eu fiz um péssimo negócio, cara! Entendeu? Em lançar o Z de vingança e abandonar o Amnésia. Se eu fosse um cara com o mínimo de visão, eu deveria continuar tocando aquela porcaria daquele som velho. Mas como eu sou um cara corajoso…
Mas o Amnésia acabou por causa da sua carreira solo? Não. Acabou, porque, cara, banda de rock tem uma hora que… o cara com 17 anos fazendo um underground bravo, acaba com qualquer pessoa. Viajar em ônibus, em pé duro, fazer circuito pesado, tocar aqui em São Luís, como a gente tocou, saca? E aquelas outras coisas, muito álcool, muita droga. Tem uma hora que neguinho pira! Fica meio doido, tá entendendo? Cansa. Já tinha integrante vendendo instrumento pra comprar disco. Daí não dá! Não dá! Chega um momento que não dá! E como eu sou obcecado, se a gente tiver uma banda junto, eu vou te enlouquecer, porque eu vou querer que tu trabalhe o mesmo tanto que eu trabalho. E os outros caras não tinham o mesmo foco que eu tinha. E aquilo, cara, é uma frustração terrível. Tanto que eu não sinto saudade dessa época. Eu sofri pra porra, porque eu queria que as coisas andassem. É o tipo daquela coisa de moleque, a coisa não parou, eu fui dando seguimento àquilo ali. Por mim, a banda não teria durado tanto assim. Apesar de ser uma das pessoas que a carregou nas costas.
E nesses 10 anos entre o fim da Amnésia e o Z de vingança, o que você fez? Eu fiquei de bobeira por um tempo, bebendo muito. Frustrado, pelo final do casamento. Depois, eu me aborreci de vez e fui para o interior. Nesse intervalo eu morei duas vezes no interior. Morei em São Mateus e Pedreiras. E passei tempo em outras cidades, como Santa Inês, por exemplo.
E o que você foi fazer nessas cidades? Eu fui trabalhar. Fui trabalhar num depósito de madeira, onde eu peguei a manha de vender madeira. E depois em serraria. Fazer porta, janela, lixar porta. Sempre fiz uns trabalhos meio malucos, uns trabalhos de estivador, carregando caminhão. Em Pedreiras eu montei um lance com computador, fazia uns trampos. E eu, como sempre gostei muito de ler, adaptei muita monografia. Acho que isso dá até cadeia, né? Mas eu me formei, mais ou menos, em umas cinco, seis áreas [risos]. Era isso que eu fazia. E paralelamente a isso, eu fiquei tocando em bandas de brega, saca? Tinha umas bandinhas de brega por lá, eu me inseria e ia tocar com os caras, foi onde eu aprendi muito.
Sempre guitarra? Sempre guitarra. Sempre mal tocada.
Magah, você tem formação acadêmica? [Espantado] Eu? Não, cara! Eu tenho paixão por livros. Todo mundo me pergunta, quando a gente começa a conversar sobre literatura, “mas tu te formaste em quê?”. Eu não me formei em nada. Eu sou estivador. Tá entendendo? [risos]
Se você fosse dizer que tem outra profissão além de músico. Eu diria que tenho um carinho pela estiva. Eu gosto de trabalhos braçais. Eu gosto de fazer força.
E esse carinho por livros, você mantém uma biblioteca em casa? Eu tive uma época em que eu pirei completamente, falo isso até em Dedos e anéis [faixa de abertura de Z de vingança]. Lembrando que todas as minhas músicas são reais. Tinha uma época que eu tinha uma biblioteca grande e ela foi se espalhando por vários locais. Grande não, razoável. Grande quem deve ter é Sarney. Sarney deve ter uma biblioteca grande. Mas esses livros foram se espalhando. Eu ainda tenho coisa como John Fante, por exemplo, que eu não deixo, não largo. Tem umas coisas como Émile Zola, que neguinho acha chato, Germinal, por exemplo, que acho interessante. Os livros do coração eu mantenho até hoje. Mas tem coisa que dei. Eu sou um cara muito roubado até hoje. Acabaram de me roubar o [dvd] No direction home, do Bob Dylan. Eu não tenho muito apego a essas coisas. Quem não tem apego nesse mundo, se fode. É o mundo do material, do tátil. E se você não se apega, as pessoas te roubam.
Você não trouxe nadinha aí, não? [risos] Tá querendo me roubar, sacana? [risos] E eu acabo perdendo também. Tem a coisa também de andar muito. Eu moro numa cidade, moro um tempo numa casa, aí saio daquela casa. Na época em que fui morar em Santa Inês, eu trabalhava numa serraria e morava num quartinho dos fundos, cortando tábua. Nessa época eu fiquei com roupa, guitarra e livro. Não tinha como. Muita coisa ia se perdendo. Tu não tem onde guardar.
Dá pra dizer se houve alguma fase da tua vida que você viveu de música? Rapaz, eu sempre vivi pra música.
Mas nunca viveu da música? Hoje eu vivo disso. Eu até estava tendo uma discussão com um cara: que não existe, na minha cabeça, um mercado de música no Maranhão. Existem caras que se grudam na aba do Estado e conseguem viver desses projetos. Esses caras vivem de brechas que o Estado dá pra eles, de amizades. Mas, se eles fossem largar o Estado e tentar viver de música, talvez não vivessem. Vivem de concessões fraternais e generosas. Mas, assim, não existe um trabalho como o meu… viver de música é um ato muito louco. De heroísmo, de paixão. Porque eu produzo um show aqui, faço um show acolá, é assim que eu vivo. Produzo não sei o quê… o cara me dá, tipo, R$ 2.500,00. Eu pego essa grana, vivo muito humildemente assim. E me viro. O que me propus a fazer bem feito e que eu tento fazer 24 horas. Eu me propus a viver disso e segurar as consequências, mas não é fácil. Eu acho que a gente está tentando dar um norte para uma galera que tá vindo aí. Porque, pra mim, a galera que vai fazer a música maranhense bacana tá por aí. Eu escutei o disco da Nathália Ferro, eu adorei o disco dela. Eu gosto da menina, da Acsa Serafim, muito bacana o trabalho dela. Então, a gente está tentando dar um norte pra essa galera. Tem que ter algum louco, lunático que diga é possível a gente fazer esse caminho dessa maneira. Mas tem que ter entrega e coragem, porque senão não faz.
Você acha que a música brasileira e a música maranhense, em particular, padecem hoje de originalidade? Eu acho que a música mundial está passando por uma crise de originalidade. Quando eu falo que sempre volto pras antigas é por causa disso. Me parece sempre muito parecido, copiado, “eu quero ser um Neil Young”. Eu, particularmente, não quero ser ninguém. Agora, eu acho que aqui em São Luís, as pessoas que eu fico vendo que fizeram um trabalho, esse menino, por exemplo, o Phill Veras, eu o considero realmente um menino com um talento maravilhoso, mas ele, a meu ver, padece dessa coisa.
A los-hermanização. Exato! Eu acho que o Los Hermanos já faz o seu trabalho muito bem feito, são os caras mais indicados para fazer a música dos Los Hermanos. Eu, Magah velho aqui, acho que tenho que descobrir o meu jeito e escutar meu som interior. Se eu for fazer igual a eles, eu vou fracassar, porque não é real. Aí o cara diz assim, o cara não fracassou, porque ele está em São Paulo e indo bem. Quando eu falo fracassar não é mercadologicamente, tá entendendo? É artisticamente. Esse é que é o problema, porque às vezes você… há brechas para o copia e cola, tanto é que eles é quem povoam e poluem por aí, nas rádios e nas TVs. Mas quando você vai embora desse planetinha é sua honra que você vai deixar. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu sobre a Rita Lee. Pô, Rita Lee passou os anos 80 até pouco tempo só fazendo disco porcaria, cara. Agora Rita Lee tá indo embora. Eu acredito que um artista dessa ordem diz assim: “pô, eu bem que podia ter tido um pouco mais de coragem e ter lançado um puta disco, com a bagagem que eu tenho”. Eu acho que tem um pouco disso. Quando eu for embora, o que vai ficar aqui é a obra. É a única vaidade que eu tenho. No dia que eu for embora daqui, a única coisa que eu quero que fique é a minha obra. Os homens vão, mas as obras ficam.
Você considera a sua obra original? Eu não tenho o direito de dizer isso, cara. Não sou eu que tenho que dizer isso. Isso quem diz são as pessoas. Ou não. Dizem que é uma porcaria. Mas também não me importa, não.
Mas a pergunta é no sentido crítico mesmo. Quando você fala que fulano está fazendo uma música que é copia de Neil Young ou Los Hermanos, eu sei que não está apontando o dedo na cara de ninguém. Estou fazendo a pergunta no sentido de uma autocrítica mesmo: como tu percebe a tua obra? Eu acho que, na verdade, esse disco, estou muito ansioso para terminar de gravá-lo e lançá-lo, O homem que virou circo, porque eu ainda nem arranhei o que quero fazer. Ainda não dei o primeiro arranhão na superfície. Mas eu acho esse trabalho um trabalho de referências. Se você, por exemplo, escutar os teclados e escutar o cd de Jerry Adriani, você vai identificar os teclados, com umas guitarrinhas fuleiras que são muito parecidas com os do primeiro disco do Camisa de Vênus, o baixo típico do brega dos anos 70. Eu acho que eu usei as referências que eu tinha, que eu queria dar. Mas é preciso entender que meu trabalho é um trabalho com conceitos. Eu não faço assim: componho um monte de músicas, acho elas legais, vou e gravo. Não. Eu tenho um conceito. Eu quero trabalhar o tema da solidão. Eu vou desenvolver em cima desse conceito. Aí eu vou desenvolver uma sonoridade que também seja cabível com esse tema. Eu tenho uma trilogia: mágoa, solidão e morte. É um tema alegre, não? [risos] A trilogia dO homem que virou circo é isso: o Z é sobre mágoa, O homem que virou circo é sobre solidão e o MIF – cemitério dos cachorros é sobre morte. Eu trabalho assim. Eu tava numa fase meio braba da minha vida, e me propus a fazer três discos para não enlouquecer e resolvi dividir os temas. Peguei o Z, e comecei a escrever músicas só sobre mágoa, sobre a possibilidade de sair dali. Às vezes eu brinco que o Z é um manual de práticas de fuga, como fugir, como se livrar de uma mágoa violenta. Um manual de mágoa e fuga. Aí eu comecei a escrever músicas que só tinham a ver com esse tema. Pra isso eu desenvolvi um personagem que no Z é um homem lúcido e perigoso, nO homem que virou circo é o próprio, e no MIF também. É o mesmo personagem, só que em cada disco ele vai tendo um nome, agregando novos valores e a personalidade dele meio que vai se transformando nesse processo todo. Até a onda da morte.
 Vingança com Z. Por que Z de Vingança? Eu sou apaixonado por essa letra, bicho. E é um trocadilho gostoso, pra deixar no ar. Porque se eu dissesse V de Vingança, pô, tem filme. E todo mundo sabe que vingança se escreve com V. Um dia eu acordei, morava eu e meu baterista aqui na [rua] Jansen Müller, levantei, sem molecagem nenhuma, e esse título me veio à cabeça. Antes de eu começar a escrever o Z. Eu passava o dia todinho falando isso, Z de Vingança. Porque eu tinha um negócio com o Z. Porque eu falava assim “esses caras me estreparam, mas vai ter a volta do Zorro”. E aí eu comecei com essa onda de a volta do Zorro e o Z do Zorro sempre me acompanhando. Aí eu montei um estudiozinho chamado A Volta do Zorro e fiquei com essa coisa do Z, do Z, até que pipocou. E eu sou um cara vingativo pra porra. Dentre outras qualidades nobres, a vingança [risos]. Eu achei bacana assim, me veio, pá, abracei!
Vingança com Z. Por que Z de Vingança? Eu sou apaixonado por essa letra, bicho. E é um trocadilho gostoso, pra deixar no ar. Porque se eu dissesse V de Vingança, pô, tem filme. E todo mundo sabe que vingança se escreve com V. Um dia eu acordei, morava eu e meu baterista aqui na [rua] Jansen Müller, levantei, sem molecagem nenhuma, e esse título me veio à cabeça. Antes de eu começar a escrever o Z. Eu passava o dia todinho falando isso, Z de Vingança. Porque eu tinha um negócio com o Z. Porque eu falava assim “esses caras me estreparam, mas vai ter a volta do Zorro”. E aí eu comecei com essa onda de a volta do Zorro e o Z do Zorro sempre me acompanhando. Aí eu montei um estudiozinho chamado A Volta do Zorro e fiquei com essa coisa do Z, do Z, até que pipocou. E eu sou um cara vingativo pra porra. Dentre outras qualidades nobres, a vingança [risos]. Eu achei bacana assim, me veio, pá, abracei!
Como foi o processo de financiamento do Z de Vingança? Normalmente se mascara esse lado da música. Ele custou 65 centavos. Porque eu pensei primeiro. [Fala como se se dirigisse diretamente aos leitores do Vias de Fato e não aos repórteres:] Vocês que têm raiva de mim, eu estou desinflacionando o mercado da música no Maranhão [risos]. Foram dois pães que eu comprei com o próprio corpo. Então, se você não gosta de mim, se manque, porque eu estou transformando o mercado da música no Maranhão. Sabe por que 65 centavos? Porque eu enviei as músicas pro cara e ele ficou alucinado e se tocou de Manaus pra cá. Nós gravamos em oito dias, mixamos em um e masterizamos em outro. Ele me entregou e foi embora. Saca? Super feliz! Não me cobrou nada. O cara cobrava cinco mil reais num estúdio onde ele morava lá. O cara se tocou de lá pra cá. Então, quer dizer, eu só posso acreditar no que eu faço. Tá entendendo? Porque para eu convencer um cara com umas músicas gravadas fuleiramente num computadorzinho e esse cara se tocar de lá pra cá, meu brother, chegar e dizer “vamos!”, e pegar o equipamento dele, bancar passagem de avião ida e volta, ficar na minha casinha velha e dizer “vamos montar a porra desse disco” e “isso aqui vale ser registrado. O que tu vai fazer com isso, eu não sei. Mas, eu quero gravar isso aí”. E aí, em vez de eu ir até Manaus, Manaus veio até mim.
Eu me lembro do Bruno [Azevêdo] falar muito entusiasmadamente do disco. “Rapaz, tu tem que ouvir isso aqui”. E que era uma coisa nova na música do Maranhão. Qual foi o papel de Bruno nesse processo? Qual foi a importância? Porra! Toda. Total. Porque eu não conhecia Bruno, nem sabia quem era ele. Quer dizer, já o tinha vista algumas vezes pela rua. Sabia de uma banda em que ele tocava. Mas ter visto assim, como estamos aqui, eu o via passando na rua. Uma vez um cara falou “ó, aquele é o baixista da Catarina Mina [banda de que Bruno Azevêdo foi baixista, com Djalma Lúcio (voz e violão) e Eduardo Patrício (bateria)]”. Não sabia quem era o cara. Pablo [Habibe, guitarrista, editor da revista Bezouro] uma vez chegou na minha casa… pra tu ver, por isso que tem aquela frase em Caixa de Pandora [faixa de Z de vingança], “o que eu sinto é o que eu mais sei”. Eu sou um cara que acredito na minha intuição, porque se eu negar a minha intuição, velho, eu tou fodido. Um belo dia eu estava em casa sozinho andando alucinadamente de um lado pro outro. Já estava com esse CD gravado, pensando “o que eu vou fazer com isso?” Bateu na minha porta o senhor Pablo Habibe, que eu não conhecia… não conhecia ninguém! Eu sou um ermitão. Fico trancado em casa. Não saio de casa pra nada. Só saio à noite para ir ao Chico [Discos, bar], porque nós já somos amigos seculares. Você não vai me ver em noite, em festa. Eu não vou pra essas coisas. Eu sou um cara caseiro. Passo o tempo todo em casa. Eu sou chato. Só. Eu gosto de viver só. Bateram na minha porta, Pablo Habibe, Acsa Serafim e Fábio Pereira, que hoje está substituindo o Pablo, que quebrou o braço. E falaram “e aí, o Ryan tá aí?”, meu baterista estava morando comigo e tava fazendo bateria pra eles. Aí eles entraram lá em casa e eu falei assim, “cara eu tenho um disco. Vocês são músicos?” Porque a solidão tem uma hora que ela enche o saco, você precisa falar com alguém. Tem um limite. Tu passa três, quatro, cinco dias trancado em casa, mas tem uma hora que tu pega uma sacola da Vivo e começa a conversar com ela [risos]. Eu mostrei o disco pra eles. Porra, o Paulo ficou “éééguas”. Ele e o Fábio ficaram alucinados. Aí ele começou, “porra, rapaz, que diabo é isso?” Eu lavando louça e a gente conversando. O Pablo levou o disco, “tem um cara que precisa escutar isso aqui: Bruno Azevêdo”, eu não sabia quem era. Levou. Fiquei preocupado. Quando eu vi estava correndo atrás, “vamos lançar, vamos lançar!”, começou a jogar na internet, ficou mais empolgado do que eu. Fiquei surpreso, o disco começou a vender e gente dizendo “legal”. Pra mim era um disco muito a cara de [rádio] AM, um toque de experimentalismo. O Bruno é responsável por tudo, eu chamo ele de meu patrão, ele fica puto quando eu digo isso [risos]. A Pitomba bancou, eles acreditam em mim. Eu sou um cara feliz, sem nenhum tostão no bolso [risos].
Uma vez, conversando com Bruno, ele disse que não teria lançado O Monstro Souza [Pitomba, 2010] se não tivesse o investimento do Souza [proprietário da barraca de cachorro quente mais famosa de São Luís, que inspirou o livro de Bruno], que deu uma grana e ele pode imprimir o livro. Z de Vingança não existiria sem Bruno. Quem Marcos Magah financiaria se tivesse grana? Eu financiaria o disco do Tiago Máci. Pra mim, esse cara é um dos melhores que já pintou de música em todos os tempos aqui. É um compositor de calibre pesado. De todo coração: um dia eu vou produzir o disco do Tiago Máci. Eu quero fazer. Eu acho muito bom, cara. Ele me lembra um pouco o [compositor] Cesar Teixeira, um gênio. Às vezes eu o olhava com fascínio, apesar de ele [Cesar] não ter nenhuma influência na minha música. Que às vezes tem aquela coisa que você olha para o cara e ele não tem nenhuma influência na tua música, mas que tu admira ele pra cacete.
Eu li em algum lugar que você está produzindo o novo cd de Claúdio Lima. Eu estou fazendo uma pré-produção do disco dele. Na verdade ele quer produzir com um cara de Londres. Ele me chamou para acrescentar esse lance que ele viu no Z e gostou muito, aqueles efeitos que tem de psicodelia e aquela guitarrinha fuleira. Cláudio é muito doido! O primeiro cd dele é genial, ainda bem que entrou lá [na lista do Vias de Fato], eu me senti vingado.
E qual seria a tua lista? Pô, mas tu tá me sacaneando! Eu não sou homem de lista! [risos]. O que eu posso te dizer é que entraram coisas ali que me… pô, olhar ali Nonato e seu conjunto [O som e o balanço, 1975], o próprio disco do Claudio [Claudio Lima, 2002], o Bandeira de Aço [de Papete, 1978] eu sabia de ia dar, pá, pá, pá, na cara de todo mundo. Mas, agora, por exemplo, tiveram coisas que não entraram e poxa…o segundo disco de Raimundo Soldado [Raimundo Soldado, 1981] tinha que aparecer [risos]. Mas tudo bem. Raimundo Soldado perdoa todos vocês! Vocês estão salvos.
Nem com o Z de Vingança nem no Amnésia você tocou em evento público bancado pelo Estado? Com a Amnésia eu fiz coisas muito esdruxulas. Em 1989, todo mundo era anarquista e os caras do Amnésia tinham uma tendência meio marxista. E eu nunca fui um cara muito ligado nessa coisa, sabe? Aí a gente tocou em 1989, no Comício do Lula, aqui na Praça Deodoro, pra umas 12 mil pessoas. Eu acho que poucos sabem disso. Falam muito bem da Amnésia. Ninguém fala mal. Parece que quando a gente morre ninguém fala mal. Mas, eu não, nunca toquei. Eu toco em barzinho, nessas casinhas, no Chico, não chamando o Chico de casinha. Toco no Chico, no Odeon [bar recém fechado na Praia Grande], toco, sei lá, no Miguelitos [casa de comida mexicana no Vinhais]. Entendeu? É uma coisa pequena. Toco por 300 contos. Eu pretendo fazer um caminho que brinque com essa coisa do popular e tal, mas que seja o meu caminho. Eu acho que meio que todo mundo tá num caminho padrão: vou fazer não sei o quê, vou ser contratado, vou para São Paulo. Eu vou fazendo um caminho mais mambembe. E a obra vai te respaldando ao longo dos dias, porque Z de Vingança é um disco, mas isso é trabalho longo. Vou fazer outro [disco], com uma sonoridade que acredito. É a construção. Ter credibilidade perante as pessoas que gostam do meu trabalho. Eu sou franco e jogo duro, não abro mão daquilo que eu gosto. Eu acho que é isso que constrói uma carreira. Não só boas músicas, mas um caminho que o público meio que se orgulha. Que aquela meia dúzia de pessoas olhe pra ti e diga “eu respeito esse cara”. Eu admiro muito o Marcelo Nova [roqueiro baiano, vocalista e guitarrista do Camisa de Vênus], uma cara de público pequeno, mas que você respeita o cara. Eu acho que credibilidade também é importante, porque neguinho pelo sucesso tá querendo fazer qualquer coisa. Eu também não sou um ingênuo de dizer “não, eu não faço isso”. Eu não tenho esses pudores, essa coisinha da culpa cristã. “Eu sou limpinho, eu não faço, eu não me envolvo”. Se eu quiser fazer uma turnê no interior, eu utilizo os mecanismos que estão à minha disposição para poder chegar nesse público que eu quero chegar. Eu vejo a coisa beligerante, de guerrilha, eu uso as armas que eu tenho. Mas eu também não vou pegar uma lança e enfiar no meu rabo e dizer “ah, morri como herói”. Não é assim.
Mas você tocaria num evento patrocinado pelo governo do Estado, por exemplo? É uma pergunta boa, cara. Eu nunca pensei sobre isso. Eu acho isso tão improvável que nunca me passou pela cabeça. Eu não acho que o governo do Estado um dia vá me chamar para tocar num evento seu. Eu acho que o governo do Estado tem o seu time. Eu não estou nesse time. É uma situação hipotética inimaginável. Eu sou um marginal!
Você falou sobre a intuição que permeou a construção de Z de Vingança. Você acredita em Deus? Porra, quando neguinho fala em Deus é esse papo sempre muito complicado. Eu sou um homem de muita fé. Existe algo que é muito complicado. Eu creio que a gente, em termos de física, a gente não sabe de nada. A luz é a coisa mais rápida que viaja no universo, talvez seja só brincadeira de criança. Rapaz, eu não gosto de fugir de pergunta assim [risos]. A pergunta é se eu acredito em Deus. Sim. Da forma como eu o concebo. Eu acredito mais nas coisas que eu não vejo, do que nas coisas que vejo [risos].
E qual é a forma que você concebe Deus? Não sei. Acho que a gente vai cair num lugar comum. Energia. É muito difícil trabalhar com esse tipo de coisa. Eu acho que passa mais pelo campo do sentimento. O vocabulário humano é muito pobre para tentar te dizer em palavras como concebo Deus. Acho que essa é uma questão metafilosófica muito complicada. É um sentimento bom. Eu gosto de ser ingênuo.
Uma coisa que eu tendo a comparar quando te escuto é com Wander Wildner. Gosto demais. Apesar do Pablo, meu guitarrista, dizer “não deixa esse cara ser comparado contigo, aquilo é uma desgraça!” Eu adoro Wander Wildner. Inclusive eu vejo similaridades não só com a nossa música, mas no jeito de viver. Wander é assim também. Esses tempos ele largou a profissão de músico e foi trabalhar numa funilaria na Alemanha. Trabalhava durante o dia na funilaria e à noite tocava. Eu vejo similaridade no jeito de pensar, de viver, a trajetória no punk também. Wander Wildner sou eu. Eu sou Wander Wildner [risos].
Intuindo que você não se preocupe muito com isso: Marcos Magah está pronto para subir ao palco do Teatro Arthur Azevedo e receber um Prêmio Universidade, seja lá em que categoria concorrer? Eu tou pronto pra tudo. Sou um homem de combate. Não tenho medo de nada. E outra coisa, esse negócio de “ah, eu não vou”. Eu não tenho medo de sujar minha mão. Depois eu limpo no paletó do garçom que estiver passando, ou do governador, melhor ainda se ele estiver de branco. Eu não penso nessas coisas, nem passou pela minha cabeça. Eu nunca fiz música para receber prêmio. Tanto que quando eu fiz o Z ele ia ficar pra mim.
Você não se preocupa, então, com o público, quando compõe? Nem um pouco. Se eu me preocupar, eu já fracassei. Isso é conversa de perdedores. Quando eu falo fracassado não é o fracasso construído pela sociedade de consumo. É uma coisa da tua verdade. Eu faço música pensando em mim, tanto que eu sou um cara egoísta pra caralho, moro sozinho e não consigo dividir a casa com ninguém.
Marcos Magah é MPM? Eu nem sei o que diabo é isso.
Música Popular Maranhense. Eu não! Eu faço música pro mundo, para todo mundo que quiser ouvir. Eu não tenho nada a ver com isso aí.
Como você define a música que faz? Rapaz, infelizmente a gente tem trabalhar com rótulo. Eu sempre brinquei em dizer que eu primeiro fazia “magahlismo”, assim, muito pretensiosamente. A arrogância também tem o seu lado romântico, mas é uma brincadeira, lógico. Eu brinco de chamar de rock-bregadélico, que é um termo que acho legal. Essa é a definição mais próxima do que eu faço. Também não estou preocupado em ser original não, cara. Agora eu escuto um som interior, que vem de dentro de mim. Quando eu lançar O homem que virou circo, eu vou mostrar para vocês, é um disco que não tem começo e não tem fim. Sabe no cinema, que os atores ficam na frente e a trilha sonora fica atrás?! O que eu fiz com esse disco, a trilha sonora vai pra frente e o ator fica atrás. Quando a música termina, o diálogo dos atores continua. O disco nem começa e nem tem fim. Ele começa com a voz de um menino dizendo “ei, moço, por que o senhor virou circo?” Então ele não tem começo, porque o começo dele é o fim do Z e termina com uma vaia sonora, que é o que vai começar o MIF também. Esses três discos estão interligados. Aí tem um lance da literatura e do cinema também. É isso O homem que virou circo, ele não tem fim, nem começo. É muito doido esse disco. É gente falando, é gente vaiando, cadeira quebrando, copo… enquanto isso a música tá rolando.









 Tu tens uma preocupação muito grande com o registro da obra de chorões, seja no disco [Choros Maranhenses, de 2006] do Instrumental Pixinguinha, seja no Caderno de Partituras [2012]. A gente percebe que o registro ainda é uma fraqueza, mesmo com todas as tecnologias hoje disponíveis. A que tu creditas essa pobreza de registro? O pouco registro se deve a certo descaso nosso mesmo. Nós admiramos muito o que é dos outros, muita besteira. Se você ver pessoas como Cleômenes [Teixeira, compositor], Tomaz de Aquino, eram grandes professores, saxofonistas, mas não houve nenhum registro. As condições técnicas não havia, agora é que estão surgindo gravadoras com nível, mas na década de 70 não havia onde, edição de partituras era raridade. Agora é que a Escola de Música vai ter um banco de partituras, quer dizer, quase 40 anos depois [da fundação da EMEM]. O Rabo de Vaca foi um grupo que eu sempre disse que é uma escola, muita gente passou por ele: Ronald Pinheiro, [o compositor] Josias Sobrinho, [o compositor] Beto Pereira, [o contrabaixista] Mauro Travincas, todo mundo passou, mas tem pouco registro. Josias deve ter uns k7s. A gente não ligava para registrar, não havia recursos tecnológicos, nem apoio.
Tu tens uma preocupação muito grande com o registro da obra de chorões, seja no disco [Choros Maranhenses, de 2006] do Instrumental Pixinguinha, seja no Caderno de Partituras [2012]. A gente percebe que o registro ainda é uma fraqueza, mesmo com todas as tecnologias hoje disponíveis. A que tu creditas essa pobreza de registro? O pouco registro se deve a certo descaso nosso mesmo. Nós admiramos muito o que é dos outros, muita besteira. Se você ver pessoas como Cleômenes [Teixeira, compositor], Tomaz de Aquino, eram grandes professores, saxofonistas, mas não houve nenhum registro. As condições técnicas não havia, agora é que estão surgindo gravadoras com nível, mas na década de 70 não havia onde, edição de partituras era raridade. Agora é que a Escola de Música vai ter um banco de partituras, quer dizer, quase 40 anos depois [da fundação da EMEM]. O Rabo de Vaca foi um grupo que eu sempre disse que é uma escola, muita gente passou por ele: Ronald Pinheiro, [o compositor] Josias Sobrinho, [o compositor] Beto Pereira, [o contrabaixista] Mauro Travincas, todo mundo passou, mas tem pouco registro. Josias deve ter uns k7s. A gente não ligava para registrar, não havia recursos tecnológicos, nem apoio.





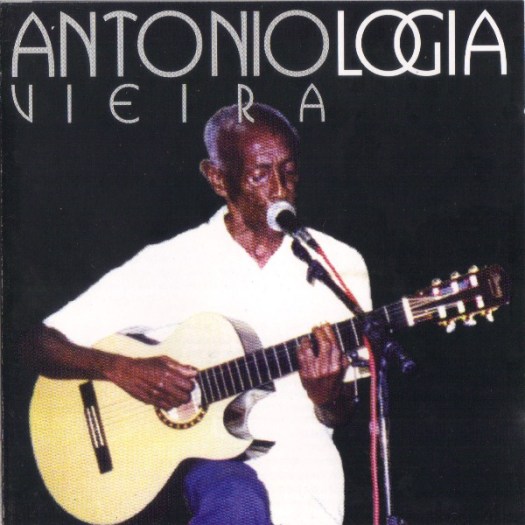






 Como foi o processo de seleção de repertório de Made in Brazil [seu disco de estreia]? Foi uma correria danada. Esse disco surgiu por culpa do [músico Arlindo] Pipiu. Tinha aberto o edital [da Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão], ele me ligou, eu gravava bastante com ele. Nisso, ele já saiu ligando pra [os compositores] Josias [Sobrinho], Cesar [Teixeira], “vamos pegar música, dá uma música aí pro Roberto gravar”. Tem música do Pipiu também. Teve muita gente com que não se conseguiu contato de imediato e o prazo já estava vencendo e faltava parte do repertório. Aí eu tive que compor algumas, eu só tinha uma música pronta. Fiz no calor do momento pra fechar o repertório do disco.
Como foi o processo de seleção de repertório de Made in Brazil [seu disco de estreia]? Foi uma correria danada. Esse disco surgiu por culpa do [músico Arlindo] Pipiu. Tinha aberto o edital [da Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão], ele me ligou, eu gravava bastante com ele. Nisso, ele já saiu ligando pra [os compositores] Josias [Sobrinho], Cesar [Teixeira], “vamos pegar música, dá uma música aí pro Roberto gravar”. Tem música do Pipiu também. Teve muita gente com que não se conseguiu contato de imediato e o prazo já estava vencendo e faltava parte do repertório. Aí eu tive que compor algumas, eu só tinha uma música pronta. Fiz no calor do momento pra fechar o repertório do disco.
 Tu tens uma vasta discografia, tocando, integrando a Camerata Carioca, fazendo Valsas e Choros [1979] e Choros do Brasil [1977]… [interrompendo] Com Turíbio eu tenho três discos. Choros do Brasil foi o primeiro, Valsas e Choros, depois tem o Violão Brasil [1980], que a gente fez para um projeto, por que nessa época, disco instrumental dependia também muito desses projetos que eram feitos pra dar brindes de empresas. Por exemplo, eu gravei a obra de Paulinho da Viola [A obra para violão de Paulinho da Viola, 1985], não quisemos nem eu nem Paulinho editar
Tu tens uma vasta discografia, tocando, integrando a Camerata Carioca, fazendo Valsas e Choros [1979] e Choros do Brasil [1977]… [interrompendo] Com Turíbio eu tenho três discos. Choros do Brasil foi o primeiro, Valsas e Choros, depois tem o Violão Brasil [1980], que a gente fez para um projeto, por que nessa época, disco instrumental dependia também muito desses projetos que eram feitos pra dar brindes de empresas. Por exemplo, eu gravei a obra de Paulinho da Viola [A obra para violão de Paulinho da Viola, 1985], não quisemos nem eu nem Paulinho editar  comercialmente, por que sabíamos que os acordos não iam ser bons, apesar de que eu tinha muita consideração com a [gravadora] Kuarup, Mário de Aratanha [idealizador e proprietário da gravadora] praticamente me lançou como produtor, eu ganhei cinco prêmios Sharp como produtor de discos, e editor, fazia aqueles acabamentos todos, tem discos nossos inclusive que ganharam também prêmio na Europa, foram lançados lá pelo Chant du Monde, gravadora que substituiu a Erato francesa. Eu fiz o meu primeiro disco de forma independente em 1977. Logo depois daquela ideia lançada pelo Antonio Adolfo,
comercialmente, por que sabíamos que os acordos não iam ser bons, apesar de que eu tinha muita consideração com a [gravadora] Kuarup, Mário de Aratanha [idealizador e proprietário da gravadora] praticamente me lançou como produtor, eu ganhei cinco prêmios Sharp como produtor de discos, e editor, fazia aqueles acabamentos todos, tem discos nossos inclusive que ganharam também prêmio na Europa, foram lançados lá pelo Chant du Monde, gravadora que substituiu a Erato francesa. Eu fiz o meu primeiro disco de forma independente em 1977. Logo depois daquela ideia lançada pelo Antonio Adolfo,  do disco independente, alguns músicos eruditos descobriram que podiam fazer aquilo. E Jodacil me disse “por quê que tu não faz um disco?” Aí eu decidi fazer também um disco, isso em 1977, concomitante com a ideia do Choros do Brasil, com Turíbio, eu fiz esse disco, sozinho, gravei no estúdio do Museu da Imagem e do Som. O segundo disco [João Pedro Borges Interpreta, 1983] já foi proposta da Kuarup, como eu fiz muitos trabalhos com a Kuarup, Mário disse “olha, a gente tava querendo fazer um disco teu”. Foi um disco dedicado a violonistas espanhóis e clássicos. Depois deste, A obra para violão de Paulinho da Viola, o quarto que eu fiz já foi na França [Clássicos Latino-americanos, 2005]. Eu também nunca me entusiasmei muito com a indústria do disco especificamente, por que eu era muito criterioso, a gente tinha aquele medo de ser explorado, mesmo tendo a compreensão de que um disco não era uma forma de ganhar dinheiro, era uma forma de divulgar o trabalho.
do disco independente, alguns músicos eruditos descobriram que podiam fazer aquilo. E Jodacil me disse “por quê que tu não faz um disco?” Aí eu decidi fazer também um disco, isso em 1977, concomitante com a ideia do Choros do Brasil, com Turíbio, eu fiz esse disco, sozinho, gravei no estúdio do Museu da Imagem e do Som. O segundo disco [João Pedro Borges Interpreta, 1983] já foi proposta da Kuarup, como eu fiz muitos trabalhos com a Kuarup, Mário disse “olha, a gente tava querendo fazer um disco teu”. Foi um disco dedicado a violonistas espanhóis e clássicos. Depois deste, A obra para violão de Paulinho da Viola, o quarto que eu fiz já foi na França [Clássicos Latino-americanos, 2005]. Eu também nunca me entusiasmei muito com a indústria do disco especificamente, por que eu era muito criterioso, a gente tinha aquele medo de ser explorado, mesmo tendo a compreensão de que um disco não era uma forma de ganhar dinheiro, era uma forma de divulgar o trabalho.
 Pro pessoal ir atrás, baixar na internet. Tributo a Jacob do Bandolim [da Camerata Carioca, 1979], sem a menor sombra de dúvida. Por que na realidade eu era um mero componente, eu digo que fui testemunha privilegiada. O Hermínio Bello de Carvalho tinha a seguinte definição: “olha, essa Camerata vai dar certo por que tem o grande arranjador e compositor, tem o grande intérprete e tem o grande ensaiador”, por que eu tinha uma técnica de ensaio que nem Turíbio tem essa técnica, era tudo muito bem organizado, até Radamés eu enquadrava. O [jornalista] Aramis Millarch uma vez, num ensaio, eu discutindo com Radamés, mas discutindo assim numa boa, a gente tinha uma amizade muito grande, mas eu sabia o limite dele, já pela idade, ia até certo ponto, por que ele já queria sair para tomar chopp, comer alguma coisa, ele não tinha muita paciência de ficar ensaiando, como Turíbio também nunca teve, mas o resto do pessoal precisava de ensaio. Aí Radamés dizia “não, agora já tá bom”, e eu dizia, “não senhor, ainda não está bom, ainda tem uma partezinha que nós vamos limpar aqui”. Aí terminava o ensaio e eu dizia, “e aí, Radamés?”, “é, é, ficou melhor”, aí ele dava o braço a torcer.
Pro pessoal ir atrás, baixar na internet. Tributo a Jacob do Bandolim [da Camerata Carioca, 1979], sem a menor sombra de dúvida. Por que na realidade eu era um mero componente, eu digo que fui testemunha privilegiada. O Hermínio Bello de Carvalho tinha a seguinte definição: “olha, essa Camerata vai dar certo por que tem o grande arranjador e compositor, tem o grande intérprete e tem o grande ensaiador”, por que eu tinha uma técnica de ensaio que nem Turíbio tem essa técnica, era tudo muito bem organizado, até Radamés eu enquadrava. O [jornalista] Aramis Millarch uma vez, num ensaio, eu discutindo com Radamés, mas discutindo assim numa boa, a gente tinha uma amizade muito grande, mas eu sabia o limite dele, já pela idade, ia até certo ponto, por que ele já queria sair para tomar chopp, comer alguma coisa, ele não tinha muita paciência de ficar ensaiando, como Turíbio também nunca teve, mas o resto do pessoal precisava de ensaio. Aí Radamés dizia “não, agora já tá bom”, e eu dizia, “não senhor, ainda não está bom, ainda tem uma partezinha que nós vamos limpar aqui”. Aí terminava o ensaio e eu dizia, “e aí, Radamés?”, “é, é, ficou melhor”, aí ele dava o braço a torcer.

 Genuinamente brasileiro, o Choro é tocado – e apreciado – no país todo. Zema Ribeiro, jornalista e produtor do projeto Chorografia do Maranhão, costuma dizer que há sotaques diferentes no Choro tocado em cada lugar, fruto das influências das culturas locais.
Genuinamente brasileiro, o Choro é tocado – e apreciado – no país todo. Zema Ribeiro, jornalista e produtor do projeto Chorografia do Maranhão, costuma dizer que há sotaques diferentes no Choro tocado em cada lugar, fruto das influências das culturas locais.










